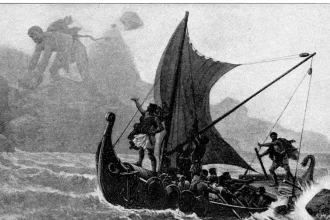Esses tempos comentei aqui que tinha uma ideia já bem estabelecida para minha primeira coluna de junho. Mas que maio afundou o Rio Grande do Sul e eu não conseguia pensar em outra coisa e a ideia não foi adiante. Bem, a ideia era isto aqui.
Vocês não são obrigados a saber disso, mas completei 50 anos neste início de junho. Pensei que deveria marcar a data de algum modo neste espaço, dado que ela não vai se repetir de novo e, sejamos honestos, esse número redondo marca para a maioria de nós a percepção melancólica de que mais da metade da vida já passou. Já vi escritores e outros colunistas refletirem sobre “coisas que aprenderam aos 50 anos”, e eu não faria isso porque, bem, eu não tenho como garantir pra vocês que eu tenha aprendido qualquer coisa digna de nota esses anos todos e acho isso algo bem pretensioso. Mas, veja só, a literatura é o meu mundo espiritual, e boa parte de quem sou vem dos livros que li.
Aí a coluna se desenhou fácil na cabeça: 50 livros que me fizeram quem sou, com um breve comentário etc. Nos casos em que o livro indicado foi traduzido, indiquei o tradutor e a editora específicas do exemplar que eu li (quando me lembrei), mesmo que hoje haja outras versões. Não é uma lista dos 50 melhores livros de todos os tempos ou coisa assim, são os livros cujo impacto ainda sinto ressoar em mim ao longo dessas cinco décadas.
Como eu disse, essa seria a coluna que eu passaria um mês escrevendo para garantir que ficaria massa. Mas eu não tive esse tempo e não queria deixar o mês virar e perder a ideia (colunistas periódicos mendigam da vida qualquer migalha de tema que puderem). Aí vai a coluna como está. Tentei montar a ordem de forma cronológica da minha leitura, mas a certo momento simplesmente deixei pra lá e fui anotando o que a memória ditava. O texto foi ficando comprido à medida que eu escrevia, então decidi apresentá-lo em duas partes. Não que eu tenha o hábito de mentir pra vocês (mentira!), mas este talvez seja o texto mais íntimo e sincero que já publiquei neste espaço. Aproveitem que não é sempre
- Tonico e Carniça, de José Rezende Filho e Assis Brasil – Minhas tias e tios por parte de pai exerciam o magistério, então, quando eu era criança nos anos 1980, havia na casa de meu avô um número considerável de exemplares da Coleção Vaga-lume, livros enviados como “cortesia do professor”. Este não foi o primeiro da coleção que li, mas sim o que me provocou um desconcerto inquieto: era um “livro sem fim”. Era a continuação de outro livro chamado Tonico, que eu ainda não tinha lido, sobre um menino no Rio que fugia de casa para tentar ser engraxate na Rua e acabava caindo numa ruim. Tonico e Carniça continuava a história ampliando o papel de Carniça, melhor amigo de Tonico, e os dois começavam a trabalhar juntos como engraxates e parecia que tudo ia dando certo até que, no fim da novela, Carniça reagia a um assalto e tomava um tiro. Era internado com gravidade no hospital e a história terminava com Tonico comentando com seu tio que tinha certeza de que o amigo viveria, porque “um menino como Carniça não morre”. E era isso. Cheguei a pensar que faltava alguma parte da edição, mas confirmei depois na biblioteca do colégio que era só aquilo mesmo. Eu não tinha lido a nota da editora que contava que sim, aquele era um romance inacabado de um autor precocemente falecido, José Rezende Filho, que havia sido concluído por outro autor, seu amigo Assis Brasil (o do Piauí, não o nosso, como já comentei aqui), com base em anotações. Talvez isso explique esse fim em suspenso, mas anos depois, pensando nessa história, vejo o quanto o final era apropriado e preciso. Hoje entendo que esse foi um dos primeiros livros a me ensinar que não era necessário em literatura que as coisas tivessem um fim redondo e certinho.
- Um ônibus do tamanho do mundo, de J.M. Simmell – Em uma época em que eu já era adolescente demais para ler livros para adolescentes, este romance sobre uma excursão de alunos de uma escola perdidos na neve em meio a um acidente provocado por uma avalanche – e com um dos garotos padecendo de uma doença grave – me apresentou a possibilidade de livros para jovens não serem aquelas coisa infantis condescendentes das quais eu ainda me lembrava de pouco tempo antes. (Nova Fronteira. Tradução: Erika Engert Rizzo).
- E não sobrou nenhum, de Agatha Christie – Sejamos honestos, esse não era o título da edição que eu li quando estava ali pelos 14 anos, e mostrando o quanto a naturalização do racismo já foi maior neste país, ninguém parecia se importar naquela época, que o livro se chamasse como chamava. À parte essa questão, até hoje é uma das minhas mais calorosas memórias de leitura. Talvez esse tenha sido o primeiro livro em minha vida a inaugurar o que eu chamo jocosamente de “fase obsessiva”: depois desse, passei a ler outros sem conta da mesma autora, e a mergulhar em outros livros do gênero (confesso: Sherlock Holmes eu fui ler depois). Muitos dos livros dessa lista inauguraram fases semelhantes: a “fase de Rubem Fonseca”, a “fase dos russos”, a “fase dos romances históricos”, a “fase da FC” e por aí vai.
- Os Melhores Poemas de Mario Quintana – meu primeiro contato com a obra poética de Mario Quintana não foi em seus livros regularmente editados, mas nesta coletânea organizada por Fausto Cunha, numa edição que acho que foi financiada por uma empresa para ser dada de brinde (não me lembro qual). Um dia, esse volume apareceu lá em casa em São Gabriel, presente repassado por alguém ao meu pai, em algum momento em que Quintana visitou São Gabriel, por algum motivo que eu não sei qual, e se tornou a grande atração da cidade por uns dois dias. Pode ter sido em 1986, mas eu não apostaria nisso. Meu pai me deu o livro e eu demorei uns dois anos para lê-lo, e depois disso Quintana se tornou um poeta que gosto de revisitar sempre que posso. Como se vê, a história é meio vaga, e o que sobrou de concreto para mim daquilo tudo foi mesmo a poesia de Quintana. Seu lirismo hoje é tido como fácil devido à simplicidade de sua dicção e à singeleza de muitos de seus temas, mas penso que é um dos autores perfeitos para se descobrir a poesia na adolescência.
- O Alienista, de Machado de Assis – O pouco que eu conhecia de Machado de Assis aos 15 anos eram umas páginas de Quincas Borba que eu lera a intervalos uns anos antes – o diretor da rádio em que meu pai trabalhava vendendo espaços publicitários tinha alguns livros em seu escritório, incluindo esse, e cada vez que eu acompanhava meu velho em alguma visita ao diretor, retomava a leitura de onde havia parado. Devo ter lido metade do livro desse jeito, mas um dia meu pai deixou de trabalhar lá e a leitura parou. Quando chegou a época de ler Machado para o colégio, nossa professora tinha o método de sortear para cada aluno a tarefa de ler um dos livros do currículo e apresentar um trabalho (aliás, fiz o meu trabalho e o de vários colegas na época, acho que 35 anos depois essa pequena fraude acadêmica já prescreveu). Tive a sorte de o meu trabalho ser sobre esta joia do humor brasileiro. Parte da ironia de Quincas Borba eu não havia captado, ficara apenas com a impressão de um livro um tanto antigo. Mas a loucura do doutor Simão Bacamarte em mapear a insanidade até prender no processo praticamente toda a cidade de Itaguaí é talvez minha primeira lembrança de rir às gargalhadas com um “livro adulto”. Não lembro mais a nota que tirei, mas nunca me esqueci de Itaguaí.
- Poemas Escolhidos, de Bocage – Não sei se ainda é assim hoje, ou se é em qualquer lugar, mas no meu tempo de guri em São Gabriel Bocage era um nome sempre citado como protagonista de piadas bagaceiras no mais alto grau. Sim, Bocage era uma espécie de “Pedro Malazartes” da putaria. Daí quando descobri, ali pelos 16, que tinha um livro do Bocage na biblioteca pública, arrisquei pegar emprestado o que só poderia ser uma coletânea de grandes piadas sacanas. No fim, não era nada disso (alguém ainda vai ter que me explicar como o Bocage virou protagonista de piadas sujas para muito além de sua iconoclastia sardônica). Ao mesmo tempo, era um livro muito engraçado. E tinha umas coisas sérias muito bonitas. Como poesia podia soar bem em nossa língua, pensei, começando aí, no contato mais improvável possível, um gosto pelo verso que dura até hoje.
- Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto – Hoje em dia eu nem sou muito fã de comédia, mas uma das coisas que reconheço haver contribuído para eu me desenvolver como leitor foi uma descoberta muito singela. A de que literatura era divertida e havia livros engraçadíssimos. Primeiro, como eu mencionei antes, com O alienista. Depois com esta joia de Lima Barreto, com sua verve disparando em todas as direções contra tudo e todos: a ridicularia da erudição pedante e vazia; a covardia bravateira do milico que nunca viu combate mas gosta que o vejam como um digno veterano; o delírio insustentável do nacionalismo iludido; Machado sozinho talvez eu achasse um episódio irrepetível. Foi Lima que me mostrou que não, dava sim para rir com a literatura dita “séria”. Era só questão de procurar, algo que venho fazendo até hoje.
- O encontro marcado, de Fernando Sabino – O livro que me fez entender ainda na adolescência a melancolia pesada de uma vida que não saiu como o planejado. Este, curiosamente, parece ser um livro que nasceu na minha cabeça em vez de ser lido. Eu sei que o li na adolescência, ainda em São Gabriel, talvez à época do 1º Grau, mas diferente de outros mencionados aqui, não guardei muitos detalhes vívidos das circunstâncias de leitura. Guardei mesmo o livro, aquela novela de formação à brasileira tão impactante que ecos dela inevitavelmente surgiram em minha cabeça enquanto escrevia minha própria novela do gênero, Tudo o que fizemos. Reconheci a dívida fazendo um dos personagens, adolescentes em idade escolar, aparecer lendo o livro em uma determinada cena.
- Os tambores silenciosos, de Josué Guimarães – Não me lembro de onde ouvi falar desse livro, mas tenho certeza de que foi na época em que eu estava fazendo meu pré-vestibular improvisado particular. Ou seja: como eu morava numa cidade do Interior e minha família não tinha dinheiro para essas coisas, eu tentava me preparar lendo provas antigas da UFRGS que eu conseguia com um amigo (que as recebia no cursinho que estava fazendo em Santa Maria e me mandava por xerox). Esse autor, Josué Guimarães, apareceu algumas vezes nas provas de literatura. Entre uma porrada de outros nomes de autores locais que eu nunca tinha ouvido falar (ok, talvez eu devesse ter lido menos policias e FC). Fui à biblioteca pública da cidade e peguei este livro, que estava por lá. Comecei a ler na escadaria do prédio (um casarão antigo onde dizem que Dom Pedro II se hospedou uma vez) e quando vi um terço do livro já havia passado e eu tinha perdido o ônibus pra ir pra casa). Josué é hoje menos lembrado do que deveria, acho. Sua narrativa é sempre uma aula de como conduzir um leitor, e seu flerte com o fantástico sempre me pareceu brilhante. Ah, sim, o livro: durante o regime militar, coisas muito estranhas acontecem numa cidade do Interior. É só o que você precisa saber.
- Agosto, de Rubem Fonseca – Lido aos 17 anos, porque constava da lista de leituras obrigatórias do Vestibular da UFSM. Como alguns dos livros daquela lista eram meio chatos e eu nunca tinha ouvido falar do autor, pensei que o de Fonseca também seria. Me enganei feio. Talvez o melhor cruzamento já realizado na literatura brasileira entre romance histórico e narrativa policial (aliás, um dos romances que marca praticamente a origem desse cruzamento). Enquanto o mês de agosto de 1954 avança com a sua instabilidade política, o comissário Matos, um dos personagens masculinos típicos de Fonseca, investiga um crime cujas ramificações podem se espalhar até o já tumultuado Palácio do Catete.
- Antes do Baile Verde, de Lygia Fagundes Telles – Outro dos livros indicados como leitura obrigatória nesse mesmo vestibular da UFSM era Verão no aquário, de Lygia Fagundes Telles. Eu fui tentar retirar o livro emprestado na biblioteca e, claro, não só não estava disponível como tinha uma lista de espera. Então, para me familiarizar com a obra da autora, acabei levando um de seus livros de contos, Antes do baile verde. E aquilo me fisgou de uma forma que eu mesmo demorei a entender. As histórias eram sobre coisas distantes do meu mundo: invejas familiares, famílias decadentes (a minha nunca subiu tanto pra cair, digamos assim), mulheres tentando escapar de restrições impostas pela sociedade, seja o casamento, o dever filial, a própria noção de amor romântico. Enquanto eu esperava a fila para o empréstimo de Verão no aquário andar, li todos os livros de contos da autora que consegui encontrar, e pareciam ser um melhor do que o outro – ao ponto de, quando eu realmente consegui ler o Verão no aquário, achei pálido e meio chato em comparação, mas assim é a vida.
- O mistério do cinco estrelas, de Marcos Rey – Escrevendo este texto, me peguei pensando que o cenário em que me formei como leitor é bem diferente daquele no qual leitores mais jovens encontraram a leitura. Não tínhamos as séries como Harry Potter e Artemis Fowl, e a série Os Karas de Pedro Bandeira estava só em seu primeiro livro. Isso talvez explique por que tenho tantas memórias da série Vaga-Lume, que eu li toda (sim, toda, pelo menos todos os que haviam saído na época), e não tenha lido muita coisa antes de mudar para Porto Alegre. Este aqui me cativou pela capa impactante (o protagonista assombrado pela silhueta de uma mão armada com uma faca projetando-se sobre o hotel ao fundo), e depois me fisgou com seu personagem jovem quase adulto enrolado numa trama que talvez fosse demais para ele. Coloco este mais como um símbolo, mas se fosse minucioso teria que incluir também Spharion, O rapto do garoto de ouro, O feijão e o sonho, o escravelho do diabo e outros da série.
- Fundação, de Isaac Asimov – Desde a pré-adolescência eu era fascinado por ficção científica, provavelmente pelas alturas que o gênero estava alcançando no cinema na época. Ali pelos 15 anos eu já havia lido alguns dos livros do ciclo dos robôs de Asimov, mas foi esta epopeia galáctica que me despertou para as possibilidades do que cabia nessa caixa de maravilhas que era a ficção especulativa (não chamávamos assim naquela época). Basicamente é a história de uma civilização galática e sua evolução contada como uma paráfrase de O declínio e queda do Império Romano, do Gibbons. Asimov gostava de contar não uma história de um acontecimento, mas a da progressão de uma ideia em uma sociedade ao longo do tempo. Este talvez seja um dos melhores exemplos.
- O tempo e o vento, de Erico Verissimo – Eu li o ciclo todo quando ainda era adolescente em São Gabriel – tenho de confessar que comecei a ler os livros por conta da minissérie que a Globo andava passando na época, com o Tarcísio Meira e a Glória Pires. Era uma obra tão famosa que eu tinha ouvido falar dela, mas vendo a história na TV é que percebi a natureza expansiva do enredo, que se espalhava por séculos, e fui impactado pela ambição épica da narrativa. Aí fui atrás da obra na Biblioteca Pública de São Gabriel e, bem, depois disso dá para dizer que dois livros sem conexão à primeira vista, este e Fundação, me tornaram um apreciador dos grandes panoramas literários. Por circunstâncias dessas da vida, a saga de Erico foi uma das obras que eu mais li na minha vida. Eu a estudei minuciosamente para um especial no jornal em que eu trabalhava, e também para o roteiro de um quadrinho adaptando o primeiro volume, desenhado pelo meu sensacional amigo artista Gilmar Fraga.
- O Talentoso Ripley, de Patricia Highsmith – Um livro que eu, grande leitor de policiais na adolescência, fui atrás depois de ler uma menção numa matéria de jornal. Mais do que um dos livros que inauguraram a onda das narrativas de crime pelo ponto de vista de um assassino, é um romance cheio de frescor ainda hoje, quando o “tropo” do sociopata se espalhou por toda parte. Tom Ripley, jovem americano que vive de expedientes escusos, é enviado por um pai preocupado à Europa para tentar convencer um playboy entediado, Dick Greenleaf, a voltar para casa. Há tanto de novo e original neste que é o primeiro livro de uma série de grandes romances. Em uma época em que se banalizou o “psicopata genial” sempre à frente de seus perseguidores, o jovem Ripley deste título age de improviso, comete erros, não sente remorso, mas sente angústia e medo de ser preso. Ainda vou escrever mais sobre esse livro aqui, acho, aproveitando o gancho da série.
- O Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago – Adolescente em São Gabriel, eu trabalhava numa das rádios locais (agora eram duas). E fazia umas entradas ao vivo diretamente das sessões da Câmara de Vereadores municipal. Aproveitava para, nos intervalos, ler as revistas que chegavam e ficavam meio jogadas na sala dos aparelhos de transmissão. IstoéSenhor, Veja etc. Foi numa delas que li um artigo sobre um escritor português que eu não conhecia, José Saramago, e como a premiação de um seu romance sobre Jesus Cristo havia gerado polêmica. Guardei o nome do livro e do autor e, quando eu estava no primeiro semestre de faculdade, esse romance em particular apareceu na biblioteca da Fabico da UFRGS. Eu já pendia para o meu ateísmo/agnosticismo de hoje, mas havia estudado em colégio de padre, e tinha muito do que havia sido inculcado em mim ainda na cabeça. A abordagem de Saramago foi, em certo sentido, libertadora. Em outro, uma descoberta estética. Não à toa nunca deixei de amar a literatura portuguesa, com seus tiques e suas dicções tão diversas das nossas. Obrigado ao José, por isso.
- Frankenstein, de Mary Shelley – Eu nunca havia visto nem os filmes, mas conhecia a imagem clássica do Frankenstein de Boris Karloff. Quando eu me mudei para Porto Alegre, o sucesso que o filme Drácula, do Coppola, estava fazendo criou um buzz para o relançamento de outros clássicos do horror como este – inclusive porque logo ali adiante sairia um filme só do monstro. O filme seria uma decepção, diferentemente do livro, que me virou a cabeça do avesso e foi uma das únicas vezes em que me arrependi de uma escolha de matrícula na faculdade. Explico: no primeiro semestre, como estava tentando cavar uns pilas num serviço no mesmo horário, precisei pegar a cadeira de Introdução de à Filosofia com uma professora meio chata e monocórdica, tendo perdido a chance de estudar no outro turno com Muriel Maia-Flickinger, que na época era famosa por fazer em todos os semestres um seminário de leitura do Frankenstein. Meus colegas que fizeram a cadeira não gostaram muito. Eu acho que teria curtido (L&PM. Tradução de Miécio Araújo Jorge Honkins).
- Ficções, de Jorge Luís Borges – O Aleph é meu livro preferido de Borges, mas só cheguei a ele porque li este aqui primeiro, uma leitura que comecei no fim de uma tarde qualquer de 1993, em um exemplar emprestado da biblioteca pública do Estado, enquanto comia um cachorro-quente numa carrocinha de rua que ficava numa praça entre as ruas Vieira de Castro e Santa Terezinha, depois de sair da faculdade e antes de ir para a Casa do Estudante, onde eu morava. Tendo sido um jovem de paixões intensas que deixava se dominar muito pela emoção, o jogo de erudição e agudeza intelectual que Borges propunha em contos como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, Pierre Menard, autor do Quixote, A biblioteca de Babel, As ruínas circulares ou Funes, o memorioso transformaram minha visão do que era possível em literatura (Globo. Tradução: Carlos Nejar).
- Crime e Castigo, de Fiodor Dostoiévski – Eu tinha 18 anos e estava apaixonado por uma colega de faculdade, então gostava de pedir a ela livros emprestados para ter a desculpa de falar sobre eles quando devolvesse. Certa noite em que a acompanhei até o portão do prédio em que ela morava, na Oscar Pereira, ela me emprestou uma edição em dois volumes de Crime e Castigo. Comecei a ler no ônibus de volta para o Centro e passei o fim de semana mergulhado na febre de Raskolnikov um pouco em febre eu próprio. Não era apenas o crime (ou o castigo, que só viria lá fim do segundo volume). Era a construção de um mundo impecável, personagens inesquecíveis como Marmeladóv, a sofrida e digna Dúnia, a ainda mais sofrida e apaixonante Sónia, o arrivista Svidrigáilov, o obstinado e manipulador Porfiri. Em termos românticos, aquela paixão pela colega não deu nada. Mas gerou uma amizade plena de presentes como esse: a gratidão eterna por alguém ter me apresentado algo tão complexo tão cedo (Editorial Minerva. Tradução Adelino dos Santos).
- Demian, de Herman Hesse – Tive um colega no colégio em São Gabriel que se chamava Demian (não sei por onde anda hoje). Achávamos um nome bem incomum, e um dia soubemos que era por causa deste livro. Só fui achar um exemplar na Biblioteca Pública de Porto Alegre, quando já tinha 18 anos, e peguei emprestado em memória da remota curiosidade daquele tempo. E o livro me fisgou já nas primeiras cenas, na qual Hesse traduzia como ninguém uma sensação que eu me lembrava ainda de haver sentido fazia pouco: o medo na infância, o medo da personalidade mais forte dos valentões da escola, quando Demian passa a viver o inferno de ser chantageado por um colega que pretende contar ao dono de um pomar que o protagonista roubou algumas maçãs. Hoje se fala menos de Hesse, mas a leitura desse livro me foi suficiente para entender como ele se tornou tão popular entre a juventude que o descobriu nos anos 1960, uma geração depois de ele haver escrito (Civilização Brasileira. Tradução de Ivo Barroso).
- Final de Jogo, de Júlio Cortázar. Eu havia tentado, aos 15, ler Bestiário, e naquela época não rolou. Um dia, quatro anos depois, logo que mudei para Porto Alegre, topei com este livro na Biblioteca Pública e decidi dar uma segunda chance (me dou conta de que era mais propenso naquela época a dar segundas chances e até terceiras a coisas que havia lido e não continuado. Claro, eu era um leitor com mais tempo pela frente). Um pouco como já havia acontecido com Borges um pouco antes (contei a história uns parágrafos atrás), o tanto de imaginação doida que havia naqueles contos era inacreditável. Axolotes, A noite de barriga pra cima, Continuidade dos parques, A porta incomunicável. Depois disso, apaixonei-me por Cortázar e finalmente entendi o que havia me faltado para reler e entender o Bestiário. Ainda acho Todos os fogos o fogo seu melhor livro, mas este foi o que começou tudo (Expressão e Cultura. Tradução de Remy Gorga Filho).
- O senhor dos anéis, de J.R.R. Tolkien. Muita gente que me conhece acha que meu contato com O Senhor dos Anéis foi precoce, como aconteceu com uma geração inteira mais tarde devido à influência dos filmes. Na verdade não. Fantasia não estava muito à disposição na cidade em que eu cresci, então eu era fã de FC, como já disse, de literatura policial, mas meu contato primário com a fantasia era mesmo o cinema (e o gênero produziu coisas muito boas na tela) e os quadrinhos do Conan (que só fui conseguir ler a partir de uma determinada idade porque minha mãe achava que eram cheios de violência e putaria). Foi só aos 20 que fui de fato ler o livro (comprei para uma namorada da época; ela começou a ler, largou porque achou chato e então me emprestou). E olha, quem disse que nessa idade já é tarde para descobrir coisas novas? Penso que o fato de eu ter sido a maior parte da vida um leitor solitário autodidata me salvou de algumas ideias preconcebidas que talvez tenham feito diferença se houvessem chegado a mim antes. Tolkien por vezes é tido como meio chato nas suas descrições longuíssimas do ambiente e da geografia e da história do mundo que inventou. Eu não sabia disso na época, então nunca me senti entediado. Foi exatamente o detalhismo como ele tirava do papel toda aquela realidade entre o épico e o místico que me impressionou e me fez fã não só daquele livro, mas dos outros que ele publicou (Martins Fontes, Tradução: Lenita Maria Rímoli Esteves e Almiro Pisetta).
- Os três mosqueteiros, de Alexandre Dumas – Ali pelos 15 anos, eu já havia assistido a mais de uma adaptação desta história na TV (o que teve como efeito colateral uma paixão à distância pela Rachel Welch), e havia lido um bom número de adaptações, citações e paródias em quadrinhos. Era o tipo de história que eu achava que já conhecia até ler finalmente o livro, emprestado também da Biblioteca Pública do Estado, nos meus 19 anos. A trama básica que eu conhecia era apenas uma das coisas a se admirar naquele romance histórico que era também uma narrativa de aventura e que fazia até mesmo a crítica do que estava narrando, dado que o livro já era um “romance histórico” quando foi publicado por Dumas (são impagáveis suas justificativas para Porthos ser mais um gigolô do que qualquer outra coisa, por exemplo). Ficou também aí uma lição: nunca achar que se conhece uma história sem ler o livro.
- O nome da rosa, de Umberto Eco – Lembra que eu disse que muitas vezes minha profunda ignorância na época da descoberta de um livro me servia como vantagem? Este é outro exemplo. Eu não havia visto o filme, que já era famoso. Eu estava na faculdade e já tinha sido meio que obrigado a ler coisas do A estrutura ausente, do Eco, para a cadeira de Semiótica, mas não tinha lido este romance. Que tem, hoje sei, fama de ser pedregoso, hermético e muito difícil. Aí eu peguei o livro na biblioteca (acho que a da Fabico, mas talvez fosse a Central) e ao me ver lendo no bar nos intervalos um colega mais velho meio escroto (digo isso sem juízo de valor, aliás), veio me perguntar se eu estava entendendo. E eu estava, mas o cara meio que não acreditou. E só depois, lendo o Pós-Escrito ao Nome da Rosa, fui saber que o próprio Eco considerava as primeiras 60 páginas do livro um desafio que venceria muitos, mas necessárias para acostumar os leitores com a dicção da prosa. Eu não sabia disso, e por isso li O nome da rosa de cabo a rabo me deliciando o tempo todo. Como dizia Nelson Rodrigues, jovens: sejam burros.
- Quase Memória, de Carlos Heitor Cony – Nos anos 1990, eu conhecia Carlos Heitor Cony como jornalista, colunista, com um passado de coragem na época da ditadura, etc. Mas foi em 1997 que eu fui tomar contato com sua ficção, quando ele voltou ao romance com esta obra linda na qual há passagens que me comoveram profundamente e das quais me lembro até hoje, mesmo sem nunca ter relido (como eu disse, já fui um jovem dominado pelas emoções). Aquele pai com aquela personalidade felliniana, um mistério exuberante incompreendido pela própria família. Talvez o fato de essa leitura ter acontecido poucos anos depois da morte de meu próprio pai, um personagem também colateralmente ligado ao jornalismo, tenha aumentado o impacto.
Continuamos na próxima semana…
Foto da Capa: Acervo do autor
Mais textos de Carlos André Moreira: Leia aqui.