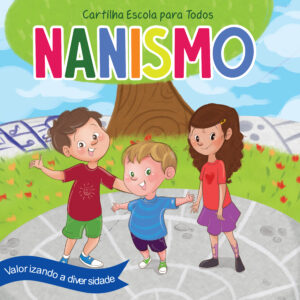O momento é de reconstrução de um país que precisa urgentemente recuperar sua humanidade e olhar com atenção para o abandono de povoados indígenas, o que gerou centenas de mortes criminosas – vergonha para uma nação que tem uma floresta conhecida como Pulmão do Mundo. O momento é de olhar para os invisíveis e trazer suas vozes, suas histórias, sua diversidade. É o que faz o médico Drauzio Varella ao conduzir a série de três episódios sobre Nanismo, que iniciou na noite de 22 de janeiro no programa Fantástico da TV Globo (foto da capa reprodução). Fiquei emocionada porque me vi representada com dignidade em uma série que contribui para que a nossa diferença não seja mais vista com tanto preconceito, descaso, deboche e piadas infames.
Como hoje quero falar do poder da palavra, achei necessário fazer este registro antes.
A palavra pode dizer mais ou dizer menos, mas diz. Produz sentidos que não se acabam e não é possível deter. Se a fala não é ‘satisfatória’, a palavra ‘justa’ vai insistir em se dizer. E é para encontrá-la que não podemos nos calar. Foi assim, através dos estudos da Marlene, minha irmã, sobre linguagem e o poder da palavra que despertamos para a urgência de falar de uma condição que ela e eu precisávamos encarar e só adiávamos – o Nanismo. Será que o silêncio se deu porque procurávamos a palavra justa?
Fale. Falemos. Sempre!
A negação do nanismo foi significativa no nosso cotidiano. Sabíamos desde a infância. E sabíamos que todos sabiam, mas não foi assunto na adolescência e juventude. Simplesmente deixamos de lado. Não falávamos sobre o que sentíamos com colegas de escola, nem com amigos. Na família, só o estritamente necessário. Era como se tudo fosse natural – E era! – mas havia sofrimento naquele silêncio.
Só quando fomos estudar fora e começamos a trabalhar é que veio o enfrentamento com o tamanho da nossa diferença. Sentíamos vontade de nos posicionar. Havia no ar uma convocação, mas alguma coisa não deixava fluir. Falávamos de tudo, menos do nanismo. Aquele silêncio cheio de medo, de uma defesa indefensável, queria esconder algo explícito. Estava no nosso pequeno corpo e nos limites do pequeno corpo. E assim assumimos a vida que se descortinava, sem olhar muito para as dificuldades que apareciam. Mas quanto mais entrávamos no mercado de trabalho, mais provocávamos admiração, espanto, observações, questionamentos. Quanto mais caíamos no mundo, mais a fala se fazia fundamental.
A travessia do fantasma
E foi diante do inadiável que atravessamos o fantasma. A palavra é anã e pode morder, mas a condição estava dada desde o começo. Os espelhos estavam por todos os lados e os olhos viam, mesmo que não quiséssemos. Falar certamente amenizaria muitos enfrentamentos porque a fala organiza, afasta os mistérios, aponta as dificuldades, reconhece as qualidades, responde às críticas, aos medos, angústias e ansiedades para chegar a um viver pleno, dentro do que é possível. Ao falar, nos vimos por inteiro, com dor, mas com coragem e sem piedade. Liberadas, não paramos mais. Inicialmente, muito entre nós. Depois, com a família, com os amigos, no trabalho, entre conhecidos. Até encararmos o público, com leveza e a segurança necessária.
Primeira entrevista
Nos anos 1980, fomos convidadas para participar do Guaíba Feminina, da então TV Guaíba da família Caldas Júnior, que ousou criar um canal de TV com programação local em Porto Alegre. Seria a exposição total – corpo e voz. Um susto, mas aceitamos. Além da entrevista ao vivo no estúdio, a produção fez imagens nossas em casa para mostrar como fazíamos para dar conta do dia a dia. E nós preocupadas com o que iriam perguntar. Como responder? O que realmente pensávamos sobre a nossa dificuldade física? Em que sentido nos limitava e inquietava?
O raciocínio foi prático. Nosso cotidiano não era diferente da rotina de pessoas consideradas normais – “Trabalhamos, nos sustentamos, mantemos a casa, lavamos louça, fazemos comida, pegamos ônibus, vamos ao supermercado, teatro, cinema, bares, visitamos amigos, enfim! Tudo isso com uma dificuldade: a de nos adaptarmos em um mundo que não foi feito para nós”.
Em casa, procurávamos adaptar o que era possível. Na rua, isso era impraticável. “Ônibus, balcões de bancos, orelhões (é, vivemos este tempo!), porteiros eletrônicos, campainhas, botões de luz, elevadores, tudo era alto”. Dependíamos da boa vontade das pessoas, o que nem sempre acontecia. Não queríamos paternalismo e sim humanidade. Não queríamos ser tratadas como criaturas especiais e sim nos integrarmos naturalmente aos ambientes que frequentávamos.
E seguimos falando do preconceito no Brasil da época que, no caso do nanismo, se manifestava sem freios, conforme comentamos na entrevista. “As pessoas têm dificuldade de abstrair a questão da altura. É muito difícil entender uma cabeça adulta perfeitamente instalada em um tamanho de criança de 5, 6, 7 anos. Ou te mimam ou não sabem exatamente que atitude tomar. Ou te tratam formalmente ou te julgam excessivamente inteligente. Ou te ignoram. O comportamento mais comum é não levar a pessoa com nanismo a sério. Enfrentamos muito isso, especialmente quando queríamos abrir crediário em alguma loja, por exemplo. A surpresa revelada pelo olhar das atendentes é uma história a parte. Nossa independência espantava, assim como o fato de termos uma profissão, conta em banco. São raras as pessoas que te deixam à vontade, falam contigo, respeitam tuas dificuldades. Às vezes, até por te tratar bem demais demonstram preconceito”.
Lembramos dois filmes emblemáticos do final da década de 1970 e início de 1980.
– O Tambor, de Volker Schlöndorff (1979), uma produção da Alemanha, França, Polônia e Iugoslávia, inspirada no livro homônimo de Günter Grass. Nos anos 1920, um menino ganha um tambor da mãe ao completar três anos e incomodado com acontecimentos familiares e com o que se passa ao redor, incluindo a ascensão do nazismo, decide não crescer.
– O Homem Elefante, de David Lynch (1980), inspirado na história real de Joseph Merrick, que viveu no final do século XIX em Londres. Com uma doença que deformou 90% de seu corpo, ele era exposto em espetáculo circense de aberrações para divertir o povo.
Em relação ao nanismo sempre houve e ainda há muitas aberrações, como o “Arremesso de Anões”, competição/atração remunerada. As pessoas com nanismo que se submetem são arremessadas em colchões por indivíduos de estatura normal. Ganha quem conseguir jogá-las mais longe. Sei que muitos participam e justificam dizendo que é uma maneira de ganhar dinheiro. Fico chocada, mas fazer o quê?
Voltando à nossa preparação para a entrevista, sabíamos que era impossível passar anonimamente. “Toda vez que saímos na rua, chamamos atenção e estamos sujeitas a todo tipo de reação. Pela admiração ou pela rejeição, a curiosidade se traduz em dedos apontando, risos, ironia, piedade, carinho, deboche. Normalmente, os anões são vistos como figuras engraçadas, grotescas e, em alguns casos, malditas. E a palavra virou adjetivo com conotações agressivas”.
“Ouve-se piada de todo tipo, a maioria de péssimo gosto”
Assim falamos publicamente pela primeira vez! A entrevista teve muita repercussão, boa e ruim. Um vereador logo saiu pedindo orelhões para anões, até nos procurou para apoiá-lo (atitude típica de políticos de um modo geral), o que negamos indignadas. E as piadas foram infames! Carlos Nobre, que assinava uma coluna de humor no jornal Zero Hora, não perdeu a oportunidade de fazer a sua. Disse que ia dar o maior arranca-rabo na Câmara, pois se um vereador queria orelhão, outro certamente iria sugerir que anão tem é que levar um banquinho para subir e telefonar. E disse mais: “O anão, quando casa com uma anã, se completa”.
Hoje não tenho dúvidas de que a fala nos salvou. E é bom perceber que sempre tentamos levar essa discussão adiante, mas não de forma isolada, nem apadrinhada. A necessidade de vincular nossa condição à luta das minorias, tornando públicas nossas questões no sentido de buscar coletivamente uma sociedade mais justa, só cresceu.
Falar é necessário por muitas razões, especialmente para manifestar o desejo de um mundo sem preconceitos, diverso e acolhedor.