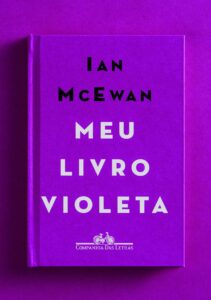O caso mais emblemático no Brasil de uma pegadinha como a que vamos falar neste texto rolou em 1999. Na época, uma reportagem da Folha de São Paulo assinada pelo jornalista Ivan Finotti (até hoje colunista do grupo Folha, a propósito), enviou a seis das maiores editoras do país na época (Record, L&PM, Ediouro, Companhia das Letras, Objetiva e Rocco) o texto do romance Casa Velha, de Machado de Assis, digitado em computador e encadernado em espiral como se fosse o original de um autor novo “desconhecido” – não fica claro no texto se o nome era fictício ou se era o nome do próprio Finotti, por exemplo – enviado para análise de publicação.
A matéria publicada como relato desse “teste cego” declarava, em um tom levemente alarmado, que três dessas editoras, mais especificamente Companhia das Letras, Objetiva e Rocco, haviam respondido recusando polidamente o livro mas que “nenhuma das editoras que respondeu reconheceu que se tratava de um livro de Machado de Assis, o maior autor nacional”. As outras três simplesmente ignoraram o envio, o que pode ter sido deselegante mas se provou acertado, dado que não foram arrastadas para o turbilhão de opiniões, razões e contrarrazões que se seguiram na repercussão da reportagem (mostrando que a matéria, ao menos esse tipo de matéria, cumpriu seu objetivo, que é menos fazer jornalismo e mais criar um “factoide”, um termo que recém se popularizava na época, para gerar barulho – ainda não se dizia “engajamento” naqueles anos mais ou menos felizes em que já havia internet, mas não redes sociais como as conhecemos hoje).
Mudança de cenário
A repercussão da matéria na época foi tremenda, parecia que todo mundo tinha algo a dizer a respeito, não apenas na imprensa, mas no meio editorial. Por um lado, o “teste às cegas” parecia comprovar algo que muitos autores repetem à boca pequena desde sempre: o fato de que “o esquema” do mercado era um jogo de cartas marcadas, que só se publicavam os livros “dos mesmos” e que um autor novo não teria chance com o sistema funcionando dessa forma.
O tempo passou, o mercado editorial no Brasil e no mundo mudou inapelavelmente. No mundo, as ferramentas de edição e de publicação se tornaram ainda mais disseminadas, o negócio da autopublicação saiu do chão, a Amazon se tornou o que se tornou, o modelo das megalivrarias proliferou até desabar sob seu peso gargantuesco. No Brasil, mesmo a lista essa que foi usada na reportagem envelheceu consideravelmente, dado que, numa concentração monopolista de poucos precedentes, Companhia e Objetiva, por exemplo, se tornaram duas marcas de uma mesma empresa, com a Penguin como proprietária de ambas, a Ediouro foi comprando outras casas com uma sanha pantagruélica (bingo Rabelais completo num único parágrafo, viva!), incluindo a Nova Fronteira, houve um aumento do número de editoras independentes sólidas e com um trabalho de edição e prospecção de nomes cuidadoso, algumas dessas editoras foram assumindo um papel mais de nicho…
Ou seja, mudou muito a configuração toda. Diacho, esse episódio já faz tanto tempo que depois disso já foi publicado um dos livros que melhor explicam a mudança de determinados setores da massa para o nicho como forma de subsistência e até de crescimento, A Cauda Longa, de Chris Anderson, que é de 2006. O que não impediu de um trote semelhante virar notícia mais de uma vez neste acelerado século XXI, e em países com uma estrutura de ensino melhor e com hábitos de leitura mais arraigados.
Outros exemplos
Em 2005, um jornalista belga enviou com nome falso a 10 editoras europeias Os Cantos de Maldoror, obra-prima da literatura “maldita” publicada por Lautréamont (1846-1870), precursor do fantástico grotesco, em 1868. Apenas o pessoal da editora Gallimard reconheceu o texto, todos os outros simplesmente recusaram. Em 2016, o jornal belga (tem algum problema com esses belgas) Le Soir repetiu o trote enviando a editoras Às Avessas, de Joris-Karl Huysmans (1848-1907), que saiu pela primeira vez em 1884. Em 2017, um autoproclamado “amante da literatura”, um escritor pouco conhecido de 70 anos, Serge Volle (participo de uns grupos de Facebook com algumas figuras desse perfil. Como já escrevi aqui mesmo na Sler, não recomendo), enviou a 19 editoras francesas as primeiras 50 páginas de O Palácio, livro publicado em 1962 por Claude Simon (1913-2005), autor premiado com o Nobel em 1985. De novo, quem não ignorou recusou – e uma das editoras justificou a recusa com alguns argumentos que Volle desdenharia ao revelar a brincadeira: livro complexo, frase muito longas, estrutura incerta, pouca viabilidade comercial. O que se depreende da experiência, concluía o autor do trote, era que “hoje as editoras buscam, acima de tudo, publicar somente obras “comercializáveis” em detrimento de obras talvez mais exigentes. É o conceito do livro descartável que está na moda”.
Equívocos
Não são incomuns os casos de obras esquecidas depois de 30 anos – como também já houve situações em que um escritor foi resgatado do limbo, como o John Williams, de Stoner ou a Lucia Berlin de Manual da Faxineira. Há casos de obras que quase se perderam porque só foram descobertas e publicadas anos após a morte de seu autor, como A confederação dos tolos, de John Kennedy Toole. São fatos na longa e tortuosa história dos livros. Só que, para mim, uma das formas menos proveitosas de discutir sobre isso é esse tipo de “exercício às cegas”.
Duas coisas me incomodam profundamente nesse tipo de “exercício” ou “brincadeira”. A primeira delas é que, em nome da “qualidade” e normalmente tentando elogias livros “fora do comercial”, muitas vezes está-se, de fato, repetindo um olhar conservador que me parece uma das coisas mais ridículas a que alguém pode se entregar depois de velho: a ideia de que “não se publica nada de bom hoje, o quadro é de mediocridade etc.”, vocês conhecem o discurso, eu meio que abordei esse tópico na semana passada.
A segunda coisa, para mim a mais importante, por dizer respeito à própria constituição da “pauta” desse tipo de notícia, algo que me interessa por motivos profissionais, é que, para além do impulso do puro trote, como jornalismo esse tipo de provocação não produz nada relevante – sim, provoca uma discussão meio canhestra que passa por cima de temas realmente sérios, mas que é de baixa qualidade porque parte de um factoide caça-cliques (como chamamos hoje) amparado em juízos equivocados já de saída.
O primeiro deles está óbvio. De modo geral, o material desse tipo de teste são sempre obras que, apesar de importantes elas próprias ou escritas por autores relevantes, são pouco lembradas para além de um nicho específico depois de 50 anos, no mínimo. Machado, caso nacional, ainda está presente por toda parte no ensino da literatura brasileira. Mas usar Casa Velha como o “teste” foi um tanto… desonesto intelectualmente, digamos, uma vez que a obra, publicada como folhetim como todos os romances de Machado, sequer foi escolhida por ele para ser compilada em livro, algo que só foi feito muitos anos depois de sua morte, em 1944, por Lúcia Miguel Pereira. Não é o livro mais famoso Relíquias de Casa Velha, uma coletânea de contos bastante conhecida, é um Machado menor e pouco característico que o próprio Machado não achou que viraria livro. Os demais exemplos pegam obras de um radicalismo extremo – e, portanto, datado, que pode ser melhor apreciado no contexto de sua publicação, quase todos eles no século XIX. Mesmo o livro de Simon tinha já 50 anos na época da brincadeira.
Contexto e história
Aí existe ainda outro equívoco de base, que é achar que todo, todo ganhador do Nobel é um campeão literário da eternidade. É um cara que ganhou o prêmio, certo, mas dentre a centena de premiados há alguns que hoje não são mais voz corrente, sobrevivendo apenas da insistência de alguns leitores devotados. Outros são, com a distância do tempo, escolhas plenamente incompreensíveis.
Outra coisa que se ignora quando se coloca uma pauta como essa em andamento como uma “grande sacada” (ah, me dei conta de que preciso retomar o meu glossário humorístico do jornalismo diário um dia desses) é o que Milan Kundera, no seu ensaio A Cortina, chama de “consciência histórica” da recepção de uma obra. No livro, Kundera conta uma anedota envolvendo seu pai, profundo conhecedor de Beethoven, a quem foi apresentada, como brincadeira orquestrada por amigos, uma composição bem pouco conhecida do autor como se fosse “de um jovem compositor”. O pai de Kundera não reconheceu a música, mas a achou deplorável, porque parecia a ele imperdoável que alguém estivesse ainda hoje imitando Beethoven de modo tão pouco imaginativo. “Não há nada a fazer: a consciência histórica é a tal ponto inerente a nossa percepção da arte que esse anacronismo (uma obra de Beethoven datada de hoje) seria espontaneamente (isto é, sem a menor hipocrisia) sentido como ridículo, falso, incongruente, até monstruoso.” – escreve Kundera em seu ensaio
Aliás, toda vez que um pauteiro aceita seguir adiante com um pauta como essa, ele está escolhendo ignorar a obra-prima que é Pierre Menard, de Borges, que já colocava em questão, em 1939, essa impossibilidade de um autor contemporâneo reescrever um clássico mesmo que o copie palavra por palavra, porque o contexto já é outro. Ou, dados muitos pauteiros que conheci, vai ver o cara ignora Menard mesmo, vai saber.
Outra ideia bastante conservadora que está no núcleo desse tipo de “trote” é a de que escritores tenham uma obra que se desenvolva numa única curva ascendente, o que é bobagem. Por isso, esse tipo de pegadinha é sempre feito com a obra menos conhecida de um autor, e que na maioria das vezes é a menos conhecida por motivo justo, porque não vai nem perto do que o autor fez de melhor em outros textos. Ou, como no caso de Lautréamont e de Huysmans, são as grandes obras de autores de repercussão hoje mais restrita aos círculos acadêmicos, embora sejam aqui e ali potencialmente resgatados em trabalhos mais conhecidos de outros (a obra de Lautréamont, por exemplo, tem improvável importância no Xangô de Baker Street, de Jô Soares. Huysmans é uma presença assombrando boa parte de Submissão, de Michel Houellebecq, para dar só dois exemplos).
O tema do gargalo das editoras existe. O tema da falta de bibliodiversidade cada vez mais imposta por um mercado hiperconcentrado é real. As dificuldades de um autor iniciante são reais em um cenário cada vez mais demarcado pelo marketing e pela tentativa de produzir “livros-evento” a cada estação, principalmente por parte das grandes editoras. Mas nenhum desses tópicos acaba sendo de fato discutidos com propriedade quando se faz algum trote dessa natureza.
Muitas vezes, a recepção desse tipo de notícia tende a ser “isso explica muita coisa”. Sim, para mim, explica que o jornalismo menos feliz conseguiu uma explicação momentosa para aquilo que ele já pensava antes da apuração.
NEM TE CONTO – Nº 3
Já que falamos hoje de escritores muito conhecidos, erros de avaliação e fraudes literárias, acho que a minha recomendação desta semana será um conto magnífico, joia de humor e perfídia escrita por Ian McEwan
“MEU LIVRO VIOLETA”, de Ian McEwan
Do volume Meu Livro Violeta (Companhia das Letras, 2018)
Parker Sparrow é um escritor inglês que, já em idade avançada, começa a narrar o conto que estamos lendo como confissão de uma vil traição literária cometida anos antes contra um de seus melhores amigos e interlocutores, o também escritor Jocelyn Tarbet. Ambos se conhecem na faculdade, tornam-se muito próximos, ambos imbuídos de um espírito iconoclasta e contestador próprio de muitos dos autores da geração do próprio McEwan (que também inclui nomes como Martin Amis ou Salman Rushdie). Mas no seio dessa amizade há um problema incontornável: enquanto Jocelyn Tarbet se torna desde muito cedo o “enfant-terrible” da sua geração de escritores britânicos, Sparrow, o narrador, premido por circunstâncias financeiras menos felizes lança, com esforço, livro após livro sem sucesso algum, largamente ignorado. A ambição fracassada e o ressentimento pela vida que o amigo parece viver em seu lugar leva Sparrow a urdir uma vingança de sofisticação diabólica. É um tema que McEwan já havia abordado em Amsterdam, mas aqui, condensado, se eleva – curiosamente, um grande amigo da mesma geração de McEwan, Martin Amis, também abordou o tema complexo da rivalidade entre escritores no romance A Informação.