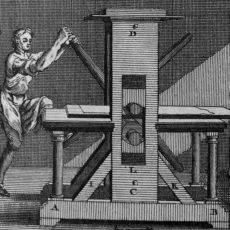A exposição Presença Negra – que reúne mais de 200 obras de cerca de 70 artistas sob a brilhante curadoria de Izis Abreu e Igor Simões, com assessoria de Caroline Ferreira – ocupa todas as galerias do primeiro pavimento do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), desde sua abertura, em maio deste ano. Ao subir o primeiro lance das famosas escadas paralelas, chegando ao átrio de circulação interna do museu, deparamo-nos com os textos curatoriais da exposição. E, neste instante em que escrevo, quem por acaso passar pela frente do prédio histórico na Praça da Alfândega – que, como Izis pontua bem, deveria na verdade se chamar Largo da Quitanda caso não tivéssemos a terrível mania de apagar a memória – irá se deparar com o imponente mural Relaxamento Afro (2022), de Silvana Rodrigues, envolvendo a frente do museu. Isso tudo não é pouco.

Dizer que essas coisas são meros detalhes alheios à exposição é, ao meu ver, ignorar um fato muito importante. Se “todo cubo branco tem um quê de Casa Grande”, conforme nos lembra Simões em seu texto de 2021 , então Presença Negra é uma demonstração contundente de que nas artes visuais a lógica colonial, com sua determinação de lugares sociais e seu racismo estruturante, deve não só ser interrogada, mas continuamente desmontada e desmobilizada para que não siga produzindo – sobretudo através de nós, brancos, e das instituições – a opressão e o silenciamento. Pois Presença Negra é, também, uma reflexão sobre lugares, sobre acesso, sobre quem entra e quem pode entrar, sobre quem nunca entrou, sobre quem sai e por onde. Ao contrário do que se poderá pensar, essa exposição não começa somente quando acessamos a galeria principal, mas começa bem antes e justamente nesses detalhes. É através deles que ela afirma aos transeuntes do calçamento irregular de um território branqueado, embora resistente, que nesta casa de Porto Alegre a arte e o pensamento das singulares existências negras irão não só entrar pela porta da frente, como também nela definitivamente assentarão praça. E nisso, Presença Negra consolida projeto. E demanda por compromisso. Adiá-lo frente ao que a exposição representa significará não só retrocesso, mas uma nova volta no conhecido mecanismo de apagamento que nós, da branquitude, perfazemos há séculos muito bem.
Aqui cumpre, como se diz no cinema e no teatro, um aparté. Talvez eu incomode a susceptibilidade de alguns leitores quando falo de ‘branquitude’, incluindo-me nela, e indicando que temos muitas responsabilidades a reconhecer e muitos compromissos a desempenhar sempre que defendemos a pauta antirracista nas artes e na cultura frente aos apagamentos que nossos próprios privilégios históricos produziram. Se este for, de fato, o caso, então exorto os que porventura estejam muito incomodados a refletir se o seu incômodo não terá, provavelmente, relação com o desencobrimento de uma realidade subjetiva das mais arcaicas e das mais socialmente recalcadas. Talvez a que diz respeito ao pacto social assaz conveniente no Brasil, capaz de nos manter sempre desimplicados, embora muito confortáveis, quanto ao nosso próprio quinhão na opressão cotidiana dos sujeitos negros em detrimento da manutenção dos arranjos sociais que nos privilegiam e sempre privilegiaram – pacto que a intelectual Maria Aparecida Bento definiu em termos de “pacto narcísico da branquitude”, em sua tese de 2002.
Voltando. De certo modo, toda exposição circunscrita aos limites de seu espaço físico se instaura como uma espécie peculiar de dispositivo estético a partir do qual são geradas múltiplas possibilidades de significado. Quando, no entanto, ela supera essa circunscrição e vai conquistando outros espaços, inscrevendo-se também para além das galerias – espalhando-se por todo o museu, seus ambientes internos, sua fachada, paredes, tomando a rua e os tapumes ao seu redor – então ela também passa a instaurar aos poucos um novo fluxo de significados, fazendo com que aquilo que está ‘dentro’ e aquilo que está ‘fora’ se dinamizem. Ao mesmo tempo em que inaugura um convite para entrar e tomar parte, e ao mesmo tempo em que indica que o de dentro é, na verdade, parte desde sempre essencial da vida dessa cidade, esse fluxo dinâmico estabelecido para além dos limites do conhecido cubo branco igualmente convida presenças, emite mensagens, sinaliza que ali se entrecruzam singularmente o pensamento, a ação, a obra e a experiência das pessoas negras que foram continuamente limadas deste espaço e do que ele resguarda, enquanto museu.
Eu insisto neste ponto. No caso de Presença Negra não se tratam de meros detalhes porque, conforme nos indica Izis Abreu em depoimentos a partir da pesquisa disparadora de seu projeto de mestrado em 2018, o acervo do MARGS é profundamente marcado pela sub-representação de artistas negros e negras – o que, por conseguinte, leva-nos a cogitar a ideia de que um dos acervos públicos de arte mais importantes do Estado do RS também é profundamente marcado pelos efeitos da lógica colonial e do racismo que a estruturou e continua estruturando. Os números são decisivos para chegarmos em algumas conclusões. No levantamento feito por Abreu em 2018, de um acervo que totaliza em torno de 1.100 nomes de artistas, apenas 27 são artistas negros (25 homens negros e apenas 2 mulheres negras). Ou seja, apenas 2.4% dos nomes desse acervo são, de fato, representado por sujeitos negros. Espantoso, não? No entanto, é mais espantoso ainda se dar conta de que apenas 0.1% desse acervo é representado por por mulheres negras. E esse dado, agora, mostra-nos que a categoria “raça” quando interseccionada com a categoria “gênero”, conforme defendeu em 1989 K. Creenshaw, revela uma sub-representação ainda mais alarmante, pois engendrada pelo duplo nó da opressão social do machismo e do racismo ao qual estão submetidas as mulheres negras.
Foi essa disparidade e sub-representação que motivaram, alguns anos depois, em 2021, o Programa Presença Negra, cuja exposição é agora um dos resultados. Embora uma leitura sistêmica capaz de dimensionar a realidade do acervo dentro da própria realidade sociocultural brasileira, igualmente estruturada pelo racismo e pelas heranças coloniais, sempre seja uma leitura legítima e bem-vinda, ela, contudo, não excluirá a retumbante necessidade de pensarmos seriamente sobre como os agentes responsáveis pelas instituições culturais fizeram, no passado, certas escolhas para a aquisição e a composição dos acervos públicos. Mas, depois de Presença Negra, será preciso fazer um urgente acerto de contas com esse passado. A começar com o trabalho dos agentes brancos que, hoje, assumem publicamente seu compromisso com o antirracismo.

Esse dado sobre as obras de arte que o MARGS detém sob sua responsabilidade me parece ser imprescindível para também entendermos a potência e a grandeza de Presença Negra: desde as ações de formação e imersão iniciadas em 2021, em seu programa no Núcleo Educativo e de Programa Público do Museu, com os artistas agora apresentados na exposição; às propostas curatoriais que sob a metáfora exuística da encruzilhada apresentam ao público a riqueza de diferentes modos de incorporação da arte, do pensamento e da resistência de seus artistas; ao modo como a exposição vem sendo mediada pelos curadores, atentos à crucial relevância da mediação e da dimensão educativa e à necessidade de que essa exposição seja cada vez mais acessada por sujeitos negros; até, finalmente, os modos como a exposição se insere dentro da própria cidade, em praça pública, mostrando que a ubiquidade da arte e do pensamento produzido pelos sujeitos racializados como negros no Sul do Brasil, até ontem, mediu-se pela eficiência da sua invisibilização. Até ontem.
Isso tudo me traz ao trabalho desbravador de bell hooks, escritora, filósofa e intelectual negra, recentemente falecida nos Estados Unidos. Em seu livro Art on my mind: visual politics (Arte em minha mente: política visual), de 1995, hooks nos oferece mais de dez ensaios nos quais aborda as relações entre a arte, a estética e a política. No ensaio que empresta o título ao seu livro, hooks avança três argumentos importantes que eu gostaria de apresentar, na expectativa de fazer jus ao seu pensamento e seu texto. Chamarei, respectivamente, esses argumentos de (i) engano do olhar neutro, (ii) falsa valoração artística e, por fim, (iii) paradoxo do acesso.
Por meio do argumento do engano do olhar neutro, hooks parece romper com a ideia bastante arraigada de que a visão é uma capacidade neutra, autonomamente garantida pelas funções biológicas e inteiramente imune à intromissão de elementos alheios aos dados sensíveis que, por meio da sensação, tomamos consciência. Assim, a ideia de um olhar neutro é por ela substituída pela ideia de um olhar saturado (ainda que inconscientemente) pelas variadas marcas da sua existência dependente de um corpo: um corpo que existe num contexto, um contexto no qual esse corpo se encontra e se relaciona com outros tantos corpos, um contexto no qual sofre os efeitos desses encontros, mas também um contexto dentro do qual é capaz de mover-se, sobreviver, organizar-se. O olhar, para hooks, está sempre impregnado de situacionalidade corporal, sociocultural, política; ainda que essa situacionalidade se naturalize e se torne, para nós que podemos olhar, opaca e inconsciente. No entanto, o encontro estético desse olhar com a arte oportuniza, com sorte, a inauguração da possibilidade de uma autorreflexão sobre, justamente, as peculiaridades da saturação desse olhar. Pois o que eu vejo naquilo que olho e, sobretudo, aquilo tudo que expresso ao ver aquilo que olho, correspondem a processos capazes de me devolver um conhecimento sobre a minha própria visão e sobre como ela é impregnada de elementos oriundos da minha situação existencial particular. É por essa razão que hooks denominou esse processo estético de uma “política visual” – assim, para ela, “a perspectiva a partir da qual nós abordamos a arte é sempre sobredeterminada pela nossa própria situação” (bell hooks, Art on my mind: visual politics, 1995, p. 2).
Com o seu segundo argumento – o da falsa valoração artística – hooks pretendeu indicar que esse olhar saturado pela situação poderá não se resumir ao mero encontro visual. Mas de que modo? Ora, quando esse olhar suscita a anunciação de declarações, opiniões, juízos, expectativas e, por meio delas, manifesta certas respostas diante da arte. Contudo, para hooks, na medida em que essas respostas diante da arte forem exclusivamente limitadas por uma expectativa de agrado e por uma demanda imperiosa por prazer visual, então, invariavelmente, o nosso encontro com a arte se transforma em um encontro egoísta. Nesse sentido, a arte é encarada desde um ponto de vista puramente hedonista, onde o que mais importa é o meu agrado e deleite individuais. É através desse processo de hedonização da arte que a nossa compreensão sobre ela também se reduz. E isso nos limita enquanto sujeitos intelectuais, interessados em pensar sobre nós mesmos e sobre o mundo. Para hooks, a exclusiva expectativa de deleite diante da arte faz com que a nossa compreensão do que a arte poderia ser para além do deleite se confine. O que, então, a arte poderia ser para além do nosso deleite individual? Ora, respondeu hooks, poderemos valorizar a arte a entendendo como um princípio; ou seja, como um fim em si mesmo e como um modo pelo qual nos associamos àquilo tudo que nos faz humanamente capazes de conferir sentidos para a nossa própria existência e condição. Diz ela: “a nossa capacidade de valorizar a arte é severamente corrompida pela política visual que nos sugere limitar nossas respostas diante da arte ao […] debate sobre boas imagens versus imagens ruins” (bell hooks, Art on my mind: visual politics, 1995, p. 8).
E é justamente neste ponto que seu segundo argumento se costura com o primeiro. Pois se não formos capazes de abdicar do estereótipo de um olhar neutro, então também não reconheceremos nosso próprio olhar como estando saturado pela nossa situação e, tampouco, reconheceremos como nele poderá habitar algo de remotamente político. Acontece que se desconsideradas essas sutilezas estéticas da própria política da visão, não nos restará mesmo mais nada a esperar da arte a não ser o deleite. Para hooks, a imensa pobreza representada por esse confinamento estético está, precisamente, no fato de que a expectativa exclusiva por prazer afasta por completo nossa capacidade de encontrar na arte, primeiro, uma oportunidade de autorreflexão sobre nosso próprio olhar situado e saturado de situacionalidade e, segundo, uma oportunidade de comunicação com aquele pensamento ali incorporado e concretizado pelo artista. É, portanto, desse modo que, pensou hooks, a exclusiva expectativa de deleite orientada pela valoração artística do tipo hedonista consegue perverter as possibilidades de que o encontro com a arte seja também capaz de movimentar um diálogo, ou uma dialética, entre mentes, intenções, olhares, subjetividades e pensamentos.
Por último, o terceiro argumento, que chamei de paradoxo do acesso, consiste na constatação realista de hooks de que o acesso à fruição e à produção de arte, embora sejam imprescindíveis à prática da liberdade e da luta por ela, encontram seus entraves institucionais, sociais e políticos. Ainda que o encontro com a arte ofereça uma oportunidade de reflexão sobre como nosso próprio olhar se situa sociocultural e politicamente, e ainda que a produção de arte seja um modo radical de pensar e produzir e lutar pela liberdade, este encontro com a arte e essa participação em sua produção e pensamento são, inexoravelmente, regulados por um circuito de práticas sociais artísticas estruturado de modo desigual e opressivo. Por estar desde sempre organizado sob a égide dos privilégios e das opressões sociais, é que o acesso à arte mediante seu circuito institucionalizado – seja para fruí-la ou para produzi-la na esperança de viver dignamente dela – apenas favorece os mais privilegiados socialmente. Ou seja, as pessoas brancas. Por conseguinte, o amplo acesso à arte atinge desse modo um terrível paroxismo. Dentro das sociedades marcadas pela recalcitrância do colonialismo e do racismo estrutural, lembrando aqui da valiosa lição de Silvio Almeida, as pessoas racializadas como negras são justamente aquelas que terão o seu acesso à arte mais frequentemente impedido ou obstaculizado. Vejamos novamente o que disse hooks:
“[…] é parte da tragédia contemporânea do racismo e do supremacismo branco que as pessoas brancas, no mais das vezes, tenham um acesso bem mais amplo ao trabalho de artistas negros, bem como ao aparato crítico que permite compreender e apreciar a arte. A atual comodificação da negritude pode significar que as pessoas brancas que visitam as exposições de obras de artistas negros […] tenham mais oportunidades de alcançar essas obras que boa parte das pessoas negras” (bell hooks, Art on my mind: visual politics, 1995, p. 8-9).
Eis aí delineado, portanto, não sem uma admitida dose de tristeza, o complexo paradoxo do acesso presente nos argumentos de hooks. Ao passo que o trabalho e o pensamento dos artistas negros ingressam no circuito institucional das artes (ainda inscrito e operado sob a lógica racista e colonial) e ao passo que ganham notoriedade nas práticas sociais artísticas contemporâneas (ainda desenvolvidas no esteio de uma sociedade racista e desigual), esses trabalhos, malgrado seu ingresso e notoriedade, demorarão em cumprir, sobretudo para a grande maioria das pessoas negras, a mais alta tarefa da arte que, para hooks, consiste em “constituir um dos raros espaços onde atos de transcendência podem tomar parte e desempenhar um impacto transformativo ainda mais amplo” (bell hooks, Art on my mind: visual politics, 1995, p. 9).
Como, portanto, poderemos escapar ao paradoxo? Como poderemos encontrar, diante dele, uma alternativa? Como podemos produzir pequenas fissuras, a partir das situações particulares em que estamos inseridos, na lógica que ainda orienta o circuito (ou o curto-circuito) que subjaz nas instituições culturais e, sobretudo, museais? Muito antes de se deixar sucumbir à tristeza aporética do paradoxo que seus argumentos encontraram, o pensamento de hooks nos aponta um caminho concreto para, talvez, superá-lo. Diz ela:
“Essas circunstâncias, no entanto, transformar-se-ão quando os afro-americanos e nossos aliados renovarem a progressiva luta pela liberação negra – repensando-a de tal modo que possamos criar coletivamente uma consciência sobre o lugar radical que a arte ocupa dentro da luta por liberdade e sobre o modo por meio do qual a experiência com a arte pode ampliar nossa compreensão sobre o que significa viver como um sujeito livre em um mundo que não é livre” (bell hooks, Art on my mind: visual politics, 1995, p. 8-9).”
A educação – que para hooks é essencialmente uma prática na qual a liberdade desponta mediante a transgressão das fronteiras raciais, sexuais e de classe, repousando na infinita capacidade humana de aprender (bell hooks, Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade, 2020) – assume assim sua mais importante interlocução com a arte, sua produção e sua exibição. Especialmente para as pessoas negras e seus aliados antirracistas, a arte precisa ser reconhecida como parte integrante e como lugar radical do movimento de luta por liberdade, e não só como um divertimento bobo, um passatempo elitizado, um luxo vão ou uma fonte de deleite. Cumpre, assim, reconhecer a arte como aquele lugar desde o qual poderão se dar as inúmeras experiências potencialmente ampliadoras do significado da liberdade das existências que resistem até mesmo nas situações sociais e políticas que, a todo momento, colocam-nas em xeque. Eis, portanto, a insurgência da arte para hooks.
Mesmo que a obra de arte apresente em toda sua inerente densidade estética e semiótica a mais sutil das metáforas sob os expedientes artísticos desenvolvidos por uma tradição de práticas seculares, ainda assim poder-se-á nela embutir, insidiosamente, um modo de pensamento crítico capaz de colocar em movimento um jogo intricado de conceitos. Conceitos que se relacionam com a própria vida humana e que atestam um projeto bem mais amplo de produção de conhecimento, saberes, formas de resistência e de conservação da própria memória.
A Presença Negra só está começando. Por isso, apressemo-nos a escutar, aqui do Sul do Brasil, os singulares avisos de existência que dela, como de dentro de uma potente caixa de ressonância, ecoam e se amplificam.