Em 2009, um escritor experimental argentino chamado Pablo Katchadjian lançou uma pequena provocação literária em uma edição de 300 exemplares distribuídos gratuitamente. O livrinho chamava-se, de modo autoexplicativo, O Aleph Engordado, e era exatamente isso que o título leva a pensar: Katchadjian pegou um dos contos mais famosos não só da literatura argentina como do mundo, O Aleph, de Jorge Luís Borges, e acrescentou nele cerca de quatro mil palavras, “engordando” a narrativa para além da sua extensão original. Quatro mil palavras, para quem está se perguntando, são umas oito folhas de papel A4, em fonte tamanho 12 e espaço simples, ou o dobro da extensão média dos textos deste seu colunista (confessadamente um dos mais prolixos do elenco da Sler).
Não era a primeira traquinagem do tipo feita por Katchadjian, autor cujo trabalho mistura os atos de releituras tão caros à literatura pós-moderna com uma intenção de aleatoriedade performática bastante comum nas artes plásticas e visuais. Dois anos antes, Katchadjian havia lançado outra piração bem-humorada, El Martín Fierro ordenado alfabeticamente, no qual reescrevia todo o poema fundador da identidade argentina reorganizando os versos por ordem alfabética de suas primeiras palavras – criando, assim, claro, outra obra, com novos sentidos emergindo de sua reconfiguração disparatada.
Foram, ambos os casos, dois exemplos de um artista de vanguarda usando como ponto de partida um trabalho anterior para debochar dos lugares-comuns associados a esse trabalho, numa manobra de desconstrução do cânone. O que sobra do Martín Fierro, popular pela sua narrativa e pela cadência irresistível de suas rimas e da oralidade de seus versos quando se implode a sua organização e a remonta em outra ordem definida arbitrariamente fora do contexto da obra? O que acontece com um conto perfeito em sua concisão quando, por meio de interpolações e acréscimos, você dobra sua extensão?
Repercussão truculenta
Brincadeiras vanguardistas que lidam com questões como os limites entre gêneros literários e as questões de autoria, ambos os textos também teriam sido experimentalismos sem maiores consequências se não fosse pela habitual truculência com que a viúva de Borges, Maria Kodama, costuma lidar com situações como essa. Em 2011, ela moveu um processo contra Katchadjian por… plágio. Não era a primeira vez que Kodama fazia algo parecido. Ela já havia intimado judicialmente biógrafos de Borges, como Juan Gasparini e Alejandro Vaccaro, e já havia retirado de circulação outra tentativa de partir da obra de Borges para uma releitura experimental, O Fazedor (de Borges): Remake, de Agustín Férnandez Mallo. Pelo seu caráter completamente desproporcional e autoritário, além do risco que oferecia em termos de jurisprudência, a ação contra Katchadjian congregou um bom número de escritores argentinos contemporâneos em defesa do autor processado.
Ricardo Piglia, César Aira, Claudia Piñero, Jorge Panesi, Carlos Gamerro, Cristian de Nápoli foram alguns dos escritores que vieram a público declarar o absurdo óbvio de um autor ser levado ao tribunal por realizar um experimento artístico usando como base, entre todos os autores possíveis, justamente Borges, cujas histórias também lidam com as mesmas questões de contexto e autoria (como Pierre Menard, exemplo mais óbvio). Só seis anos depois, após várias decisões favoráveis a um lado ou outro, a causa foi decidida em prol de Katchadjian.
Note que todas essas manifestações não se estendiam sobre a qualidade do livro, mas sim sobre o princípio, correto, de que era absurdo interditar o uso paródico ou satírico de um trabalho canônico, ainda mais numa edição não comercial. A questão é que, como boa parte de muitas das provocações vanguardistas, O Aleph Engordado é uma obra que colabora mais com sua existência enquanto provocação aos limites do que por seu conteúdo específico. Katchadjian não diz que seu Aleph foi “ampliado” ou “expandido”, foi simplesmente “engordado”, estufado por um excesso cuja necessidade é discutível, e mais de uma vez, esse toque é retomado como questão temática contrabandeada para dentro do conto original de Borges.
É recorrente no livrinho de Katchadjian o tema de pessoas e coisas que “engordam” em um estado de agitação ou crise (a começar pelas feições do primo de Beatriz Viterbo em O Aleph, Carlos Argentino Daneri. Descrito como um homem de feições elegantes e “traços finos”, nas interpolações de Katchadjan ele é visto como um sujeito que, em seus momentos de cólera apoplética, parece ter os traços do rosto “engordados” eles próprias).
O “engorde” promovido por Katchadjian é uma ferramenta para criação de humor e para satirizar, a certo modo, o quanto um conto lido por todo mundo como O Aleph e um escritor consagrado em nível mundial como Borges já haviam sido inevitavelmente “engordados” por seis décadas de leituras, críticas e lugares-comuns mesmo antes que o autor fizesse sua bem-humorada intervenção. Mostrando que o trabalho das vanguardas é de fato uma antecipação, mas sempre passível de antecipar algo que ninguém esperava, torna-se bem engraçado olhar em volta e ver o quanto a noção de um entretenimento “engordado” atualmente parece menos que uma provocação experimental e mais uma tendência mainstream.
Expansão desnecessária
Está no ar nas plataformas de streaming atualmente um bom número de refilmagens de filmes e telefilmes dos anos 1980 em formato de minissérie, produzidas em uma lógica que mira na ideia de “ampliar elementos” deixados de fora das obras anteriores justamente pela duração média de um filme. No fim das contas, o que se vê como resultado final não é uma “expansão de temas”, está mais para um “engorde” como o aplicado por Katchadjian, mas esvaziado até mesmo de suas intenções paródicas.
Desejo Obsessivo, produção inglesa da Netflix cujo único nome de algum relevo é a atriz Indira Varma (Roma, Kama Sutra, Luther, entre outros), é uma nova adaptação do romance Perdas e Danos, de Josephine Hart, lançado em 1991 e adaptado para o cinema por Louis Malle em 1992 em um à época elogiado thriller erótico com Jeremy Irons e Juliette Binoche. Na concorrente Amazon, Rachel Weisz (foto da capa) anda trabalhando o dobro numa minissérie que muda o gênero dos protagonistas de Gêmeos: Mórbida Semelhança, de David Cronenberg, de 1988 (aliás, também estrelado por Jeremy Irons, agora que parei para pensar nisso). A mudança do gênero de dois irmãos para duas irmãs oferece, ao menos, uma oportunidade real de ampliar o foco da produção original, uma vez que o elemento da tortura masculina do primeiro filme é enriquecido com todos os subtextos resultantes da troca de perspectiva. Ainda assim, o que eram menos de duas horas nos anos 1980 agora são seis episódios.
Atração Fatal também passa pelo menos processo atualmente, com Lizzy Caplan e Joshua Jackson nos papéis que eram de Michael Douglas e de Glenn Close no filme de Adrian Lyne de 1987, menos de duas horas no original viram quase oito agora nesta produção da Paramount (que eu não assino, então não vi, não sei se funciona ou não. Assistam e me digam – ou me emprestem a senha de vocês).
Neste momento de popularidade nunca vista das histórias “true crime”, um caso rumoroso meio obscuro como o de Candy Montgomery, uma mulher metodista residente no Texas que matou nos anos 1980 a machadadas a mulher do homem com quem vinha mantendo um caso, também virou não uma, mas duas minisséries recentes com elenco estrelado –na época do crime o máximo que a coisa rendeu foi um telefilme meia-boca com Barbara Hershey e Brian Dennehy chamado Vítimas do Ódio. Agora, Jessica Biel vive a religiosa assassina em Candy, de cinco episódios, da Hulu (disponível no Star+), enquanto Elizabeth Olsen interpreta a mesma personagem, com o mesmo nome na mesma história em Amor e Morte, da HBO Max.
Talvez se pudesse agregar a essa lista de exemplos Cenas de um Casamento, que fez carreira internacional como um filme de Ingmar Bergman em 1974 e que um ou dois anos atrás virou uma série de cinco episódios na HBO com Jessica Chastain e Oscar Isaac substituindo Liv Ullmann e Erland Josephson, mas esse eu dou o desconto de reconhecer que o Cenas de um Casamento original já era uma minissérie dirigida por Bergman para a TV sueca, e que foi sua versão remontada aquela que se espalhou como filme pelo mundo devido às questões técnicas da época.
Razões da tendência
Não que seja uma tendência exatamente nova ou que não tenha saído daí algumas coisas interessantes, como a própria Fargo, que talvez tenha inaugurado essa onda há quase 10 anos. Também não é uma exclusividade das minisséries esse “engorde” deliberado. Os próprios filmes hoje em dia parecem ter atirado fora voluntariamente a receita pra um filme abaixo de 100 minutos. Um certo entendimento tácito antigamente reservava as longuíssimas durações para filmes de fôlego épico ou de escala monumental, como O Vento Levou, Ben Hur, Lawrence da Arábia, Era uma Vez na América, Era uma Vez no Oeste, O Franco Atirador etc. Agora, imagino que esse tipo de métrica tácita tenha sido abandonada quando duas horas e meia de filme é o novo normal em qualquer produção, de um drama histórico de proporções vibrantes como O Irlandês até qualquer Velozes e Furiosos, em que o verdadeiro desafio épico é entender o Vin Diesel falando.
O que me parece curioso nessa profusão de obras cuja ideia de “aprofundamento” tem a ver com “expansão da narrativa” muitas vezes em até quatro, no mínimo, é que é um fenômeno verificável justamente em uma época em que nunca tantos se queixaram tanto de falta de tempo.
Redes sociais, jogos de videogame, jogos de computador, jogos de apostas online (dos quais ainda teria mais a dizer, mas guardo para alguma coluna mais adiante) vinte plataformas diferentes de streaming, YouTube, Spotify, o apelo do escapismo parece inescapável ele próprio em um momento social e econômico em que a jornada de trabalho se avoluma cada vez mais. Na armadilha dentada que mói o cotidiano de qualquer trabalhador, mesmo o lazer escapista parece outra forma de sequestrar o cada vez mais parco tempo livre, num movimento talvez irreversível a curto prazo.
Claro que esse é o tipo de mudança que não se processa pela vontade de cinco ou seis caras num covil em algum lugar, está intimamente ligado ao próprio modelo tecnológico da indústria cultural. O próprio cinema já viu novas incorporações a seu formato básico da chegada do som e da cor à revitalização do 3D como forma de turbinar o fator espetáculo em uma época em que as pessoas estavam cada vez menos acostumadas a ir ao cinema a não ser para ver algum assalto bombástico aos sentidos (e aparentemente esse é o caminho sem volta da arte cinematográfica pós-pandemia, inspirada no raro sucesso esmagador pós-quarentena: Top Gun: Maverick. Agora que os streaming se proliferam e lideram as pressões da indústria (haja visto o maior impasse que levou os roteiristas dos EUA a entrarem em greve ser justamente a remuneração da categoria no atual sistema de streaming), e cada um deles funciona com a mesma lógica de algoritmo das redes, tentando manter você conectado e com a transmissão de dados ligada oferecendo um catálogo gigantesco de coisas vagamente iguais umas às outras, um simples filme é munição de baixo calibre na guerra da audiência, você precisa de uma série, oito, dez, 12 horas de conteúdo, essa palavra monstrengo voraz que parece englobar praticamente tudo hoje em dia, da videocassetada do seu vizinho que viralizou no Tik Tok às produções de grande orçamento do cinema gringo, do artigo pesquisado em um portal especializado a uma cagação de regra super espontânea em uma newsletter.
Nos dias de hoje, os apelos a uma forma de “consumo consciente” estão cada vez mais centrados nos aspectos éticos de uma produção (gravada num país ditatorial, filmada com crueldade animal, exploração de mão de obra local, etc.) e nas facetas políticas de seus produtores (atores/diretores/roteiristas) com posições políticas “problemáticas” ou com “comportamentos tóxicos canceláveis”. Todos os pontos válidos. Mas fico me perguntando se não é hora de o consumo consciente também não deveria incluir um olhar mais atento à forma como o entretenimento contemporâneo drena seu tempo, a única moeda que você ainda tem para vender no selvagem capitalismo tardio globalizado contemporâneo.
E não à toa, exatamente a única moeda que sobra para o grande capital retirar de você pagando muito menos do que ela vale.
NEM TE CONTO Nº 12
Bom, considerando o modo como começamos o texto, esta foi telegrafada a quilômetros de distância, não é mesmo?
O ALEPH, de Jorge Luís Borges (incluído em O Aleph, edição mais recente pela Companhia das Letras, 2008).
Sim, eu sei que esta é uma recomendação pouco útil porque a essa altura é provável que alguém que se interesse pelo que escrevo na Sler JÁ TENHA lido esta obra-prima inescapável da narrativa curta. Alternando o luto pela morte da mulher que amava sem ser correspondido, Beatriz Viterbo, com o ciúme e o ressentimento que nutre por Carlos Argentino Daneri, primo de Beatriz e, suspeita o narrador, talvez amante dela, o protagonista desenvolve o hábito de visitar seu desafeto – apesar do desprezo que sente por Argentino, é nessas visitas que ele revive as memórias de Beatriz.
Daneri, a quem Borges, o narrador, considera um medíocre irredimível, está compondo um poema épico que pretende abarcar toda a existência. No clímax da narrativa, o protagonista descobrirá que a inspiração de seu rival vem de um “Aleph”, um ponto minúsculo que concentra toda a existência.
Publicado em 1949, até hoje assombra multidões pela elegância concisa e pela imaginação poderosa que resiste não apenas ao “engorde” de Katchadjian como a outro bem mais ofensivo: aquele que Paulo Coelho achou por bem realizar ao aproveitar o mote em um romance de mesmo nome. Do romance.
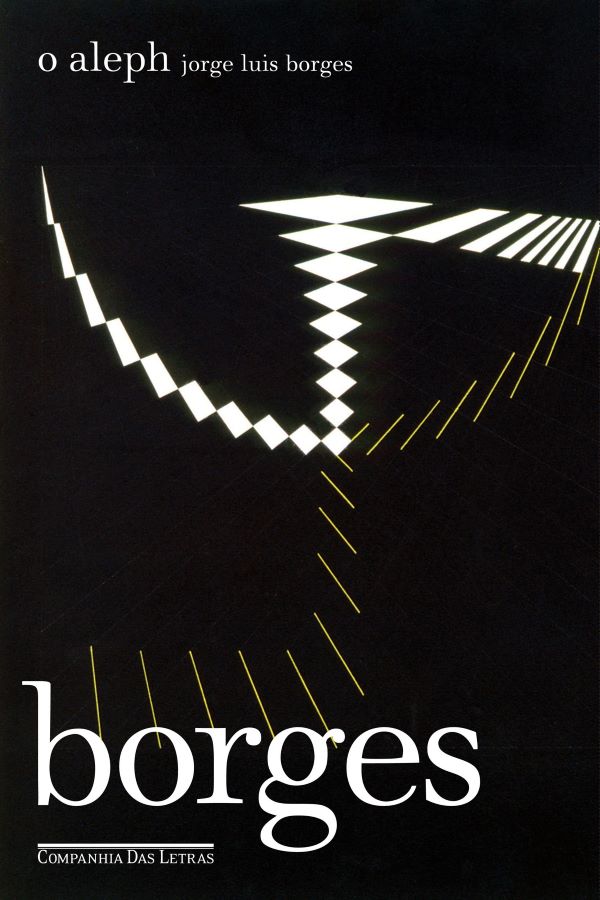
Foto da Capa: Gêmeas: Mórbida Semelhança / Divulgação / Prime Video
Mais textos de Carlos André Moreira: Clique aqui.








