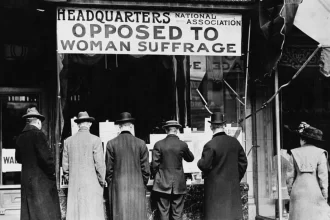A ideia de que a curiosidade é perigosa não é nova na literatura, pelo contrário, está presente desde a primeira história narrada no Velho Testamento, com a humanidade punida pelo seu suposto Criador por um impulso que qualquer pessoa considera muito natural, o da curiosidade. Adão e Eva são expulsos do Paraíso terrestre por comerem uma fruta que literalmente concede o conhecimento do bem e do mal. Nesse contexto, a queda do Paraíso é uma alegoria muito explícita para o desenvolvimento da consciência, para a ideia do conhecimento como um tesouro proibido.
Essa noção perigosa do conhecimento também está presente ao longo da história humana em várias compilações dos chamados saberes “profanos”, “ocultos” ou “proibidos”, na qual é recorrente a história de livros como objeto atravessando os séculos como repositório de maldições, feitiços e malfeitos, tomos que preservam conhecimentos arcanos e malditos, e cuja leitura não apenas perderia a alma de seu leitor, mas daria a ele conhecimentos proibidos para fazer mal também aos demais. Não é uma visão totalmente inesperada considerando o quanto superstições de todo corte sempre acompanharam a história humana.
Assim, a ideia da curiosidade como um perigo e do conhecimento como algo que deve ter limites que, se ultrapassados, clamam por uma punição exemplar e muitas vezes bastante drástica, não é nova. Porém, curiosamente, quando já se dissemina um novo olhar calcado na ideia iluminista de emancipação das superstições, inclusive a da religião, esse tipo de entendimento não desaparece, antes se metamorfoseia. Está muito presente, por exemplo, na literatura de corte fantástico que floresce a partir daquele momento, usando as ferramentas bastante modernas da metalinguagem e da ironia dramática.
Os chamados “tomos malditos” persistem em narrativas de ficção que trazem dentro de si a própria figura de um livro ou de uma obra de arte ou de entretenimento que, quando lida ou vista por um desavisado ou por um pesquisador obcecado que cede à tentação da curiosidade, provoca não apenas a loucura, mas uma série de outros males, tanto físicos quanto morais e mentais.
Esse é um tipo de narrativa que começou a se espalhar principalmente a partir do século XIX – afinal, o mesmo século que testemunhou o nascimento do grande realismo de Balzac e Zola também foi o século de Guy de Maupassant, de E.T.A. Hoffmann e Edgar Allan Poe, autores que estabeleceram atmosferas, temas, tropos e imagens que se repetem até hoje na literatura de gênero contemporânea. São comuns ainda hoje releituras e retrabalhos de ideias que surgem nas obras desses autores da grande tradição fantástica, como histórias de casas mal-assombradas, o horror dos duplos e a narrativa de um livro amaldiçoado.
Chambers
Um dos primeiros grandes modelos da história do “tomo maldito” é O rei de amarelo, uma coletânea de contos publicada em 1895 pelo ilustrador e escritor norte-americano Robert Chambers. O rei de amarelo é uma coletânea de dez pontos, quatro deles interligados por um tema central: a de uma peça escrita por um autor desconhecido chamada O rei de amarelo que, quando lida até o fim, leva o seu leitor à loucura. Em um dos contos, O reparador de reputações, a peça é apresentada como uma espécie de armadilha intelectual: um texto em dois atos, o primeiro deles com uma narrativa um pouco confusa, mas sem nada demais – é a partir da leitura do segundo ato que a obsessão se instala no leitor e os delírios descritos na peça tomam conta da mente do desavisado curioso, com a loucura sendo o inapelável destino final. Nascido em Nova York em 1865, Chambers também era ilustrador, o que explica a sua imaginação visual exuberante de O rei de amarelo, e também sua grande fraqueza: um desenho de personagens não muito além da caricatura.
Analisado em seu conjunto, O rei de amarelo é bastante irregular. As partes que falam da peça são muito melhores do que a maioria dos outros contos que não tratam diretamente da obra imaginária. Mas ele consegue um triunfo notável: O rei de amarelo fala sobre uma obra que desperta tal curiosidade que, mesmo alertados do seu perigo, os seus leitores não conseguem deixar de avançar e de se perder nessa leitura, em mais de um sentido. E a curiosidade que os leitores descritos nos contos sentem é a mesma curiosidade que a obra desperta em nós, os leitores dos contos no mundo extraliterário, usando um truque hábil de prestidigitação descritiva. As breves descrições da trama da peça, ou alguns sumários econômicos a respeito do enredo, algumas citações anêmicas em verso dão uma ideia vaga e elíptica, mas ainda assim curiosa e interessante, do que trata, afinal, a peça O rei de amarelo.
Na visão religiosa tradicional do conhecimento como uma maldição, um perigo que, se não evitado, pode provocar a perdição de um indivíduo, o veículo, como dissemos no primeiro parágrafo, é um fruto (traduzido para muitas culturas como uma maçã). Ou seja, não é apenas o conhecimento o perigo, mas a forma como ele vem envolto no prazer dos sentidos – metáfora sexual também óbvia. O rei de amarelo fala sobre uma obra de arte que provoca tal curiosidade que é irresistível, ou seja, também um conhecimento perigoso envolto na fruição estética – o que combina muito bem com a atmosfera do século XIX na Europa, em que uma repressão sexual e social ferrenha entrava em choque com muitas transformações provocadas pelas inovações tecnológicas do período.
Lovecraft
A obra de Chambers foi amplamente resgatada ali por 2014, quando foi citada de modo elíptico na série de TV True detective – em sua primeira e melhor temporada. Antes disso, ele era um autor conhecido apenas pelo nicho dos fãs de horror, incluindo aí outros grandes autores do gênero, como H.P. Lovecraft. Muitos consideram que Chambers influencia o próprio Lovecraft na criação do que talvez seja um dos mais famosos “livros malditos” da história da literatura, o Necronomicon, que muita gente traduz por “o livro dos nomes mortos”, mas que o próprio Lovecraft, em uma carta a um amigo, enfatizou que deveria ser entendido como “Uma imagem das leis dos mortos”.
O Necronomicon é um compêndio fictício que atravessa boa parte da obra de Lovecraft, sendo citado em mais de um de seus contos e em mais de um de seus romances. Na mitologia desenvolvida por Lovecraft como pano de fundo para sua obra, o Necronomicon é chamado originalmente Al Azif, uma palavra árabe para “o zumbido dos insetos” ou “o zumbido das moscas”. Lovecraft também atribui a escrita do livro a um personagem fictício, um árabe insano chamado Abdul Alhazred – como, espero que a maioria já saiba hoje em dia, Lovecraft, apesar de todo seu talento e de sua fértil imaginação, era um conservador reacionário e um racista do cacete, e por isso essa mitologia criada para o livro está eivada do mais estereotipado orientalismo então em voga em seu tempo no que diz respeito à literatura e à cultura árabes.
O mito dos Antigos
Lovecraft claramente foi desenvolvendo a ideia do Necronomicon à medida que escrevia. A primeira aparição do livro se dá em um conto de 1922 chamado O cão de caça. Um ano antes, em 1921, em um outro conto chamado A cidade sem nome, aparece pela primeira vez a citação a Abdul Alhazred. É apenas alguns anos depois que o Necronomicon vai ganhar a forma definitiva com a qual seria apresentado nas obras seguintes, ao ser mencionado no conto clássico O chamado de Cthulhu. A partir daí, o Necronomicon volta a aparecer em várias outras obras, mais notadamente em Nas montanhas da loucura e A sombra fora do tempo.
Esse conceito literário de um livro amaldiçoado pareceu interessante também a amigos e interlocutores de Lovecraft, escritores que também publicaram, como ele, em revistas pulp do período, como Augustus Derleth, Clark Ashton Smith, Robert Bloch e Robert E. Howard (o criador de Conan). Era comum que, em suas intensas trocas e colaborações, todos esses autores por vezes visitassem conceitos e personagens criados pelos outros. Assim, não apenas Derleth e Smith escreveram suas próprias sobre o Necronomicon de Lovecraft, como todos também desenvolveram seus próprios “grimórios malditos”. Robert Bloch criou o De vermis mysteriis, no qual estariam encantamentos, rituais profanos e mistérios do mais antigo deus egípcio, Nyarlathotep (criado por Lovecraft). Clark Ashton Smith criou o Livro de Eibon, ou Liber Ivonis, um tomo mágico datado dos dias pré-históricos da sua terra fictícia Hiperbória. Robert E. Howard criou em 1931 outro livro maldito, o Unaussprechlichen Kulten, ou O livro dos cultos sem nome, vinculando-o à mitologia de Cthulhu criada por Lovecraft – que, mais tarde, citaria a criação do amigo em seus próprios contos.
No caso específico do Necronomicon, bem como em boa parte da obra de Lovecraft, o seu fascínio se dá pela forma elíptica como ele é apresentado nas histórias citadas. É dito que o livro é uma espécie de grimório com feitiços, encantamentos, conhecimentos de magia arcana que poderiam, inclusive, ressuscitar os mortos. Ao mesmo tempo, como outros dos livros criados pela turma e mencionados no parágrafo anterior, o Necronomicon é também uma história dos Grandes Antigos, seres monstruosos interdimensionais que alguma vez na antiguidade já governaram o planeta Terra e hoje espreitam de algum lugar além do véu da realidade esperando a hora de voltar a escravizar a humanidade.
Diferentemente de Chambers em O rei de amarelo, que providencia várias citações da peça em verso, muito pouco se sabe do que está escrito textualmente no Necronomicon – porque Lovecraft, embora diga em mais de um conto que o tomo é alentado e volumoso, foi econômico em descrever tanto a sua aparência quanto em apresentar trechos do seu conteúdo – no máximo duas ou três linhas aqui ou ali. Esse era um procedimento característico de Lovecraft: suas criaturas raramente são descritas com rigor detalhista, a sugestão faz muito mais efeito do que a descrição. Até porque o horror cósmico de Lovecraft assenta-se na ideia de que as coisas que ele está narrando são grandes e aterrorizantes demais para serem capturadas pela linguagem e pela racionalidade humana.
Ainda assim, à medida que a obra de Lovecraft foi ganhando popularidade, espalhava-se entre seus leitores a ideia de que um livro real, talvez oculto em alguma biblioteca, tenha sido a inspiração para a versão literária criada pelo escritor. Embora o próprio Lovecraft gostasse da ideia de vários autores falando sobre um mesmo livro fictício ou mito, dando uma certa noção de autenticidade ao conjunto, ele sempre que preciso confirmou que o Necronomicon era uma criação sua.
“Agora, sobre os ‘livros terríveis e proibidos’ – sou forçado a dizer que a maioria deles é puramente imaginária. Nunca existiu Abdul Alhazred ou Necronomicon, pois eu mesmo inventei esses nomes”, escreveu ele em uma correspondência a Willis Conover.
Borges
Leitor onívoro que apreciava desde Sagas islandesas sem tradução até os livros policiais mais popularescos, Jorge Luis Borges também teve algo a acrescentar nessa cadeia mitológica de livros amaldiçoados. No conto O livro de areia, que dá título a uma coletânea de suas narrativas curtas, um intelectual bibliófilo que mora em Belgrano, em Buenos Aires, recebe um dia a visita de um vendedor ambulante de Bíblias. Ao saber que o narrador não apenas tem vários exemplares da Bíblia, alguns deles edições especiais, o vendedor oferece um outro produto: um exemplar misterioso encadernado em tela, em 1/8, que o homem diz ter comprado em uma cidade chamada Bikaner, na Índia. O indiano que o vendeu diz que a obra se chama O livro de areia por não ter começo nem fim e por ser mutável como a areia. De fato, à medida que folheia o livro, o narrador percebe que ele é escrito numa linguagem de símbolos que ele não conhece e que é ilustrado por imagens que nunca se repetem nem são encontradas outra vez depois de serem vistas, por mais que o homem tente repassar as páginas uma a uma.
Aliás, a própria ideia de folhear o livro do início ao fim se revela complicada, porque toda vez que ele tenta abrir o volume na primeira ou na última página, parece que outras páginas brotam do nada. Basicamente, aquele é um livro infinito que se transforma à medida que é lido. Fascinado, o bibliófilo combina com o vendedor a troca do livro por uma Bíblia de edição rara e pelo dinheiro de uma aposentadoria que acabou de receber. De posse do livro, ele começa a examiná-lo e, ao fazer isso, vai se perdendo de tal modo no processo que logo está às bordas da insanidade. Ele não apenas não consegue nunca decifrar a escrita do livro, como parece que nenhuma página jamais se repete. Embora o volume não aumente de tamanho, as ilustrações às vezes estão separadas uma da outra por duas mil páginas. A absorção pelo fascínio desse livro é tanta que o homem se vê aprisionado por ele: não sai mais de casa, abandona os amigos, praticamente não dorme, num processo que pode levar o personagem ao fim e à ruína.
Como era comum nos contos de Borges, esta história é bastante curta, escrita numa prosa precisa em que praticamente nada sobra. Ao mesmo tempo, não deixa de ser uma grande alegoria da forma como Borges outras vezes mencionou a literatura: como uma espécie de único livro fascinante no qual o mergulho em profundidade pode ser absorvente o bastante para transformar ou perder uma vida.
P.S. 1 – Talvez o leitor que tenha chegado até aqui lembre também de O nome da rosa, no qual, a seu modo, Umberto Eco também torna fatal a curiosidade por um livro supostamente proibido, um segundo volume da Poética de Aristóteles sobre a Comédia. É uma menção válida, mas Eco aqui torce um pouco a proposta, fazendo da história uma grande narrativa policial (seu frei William de Baskerville toma a própria descrição emprestada de Sherlock Holmes). Assim, a resolução do mistério é física, plausível e ancorada no real, e não necessariamente a maldição mística que recai sobre os leitores das obras anteriores.
Minha ideia, aliás, era encerrar este texto com algum exemplo nacional dessa vertente que abri, mas não me ocorreu nenhum, embora tenha lido um considerável número de obras de corte fantástico produzidas aqui. Consultei amigos escritores de erudição comprovada e também ninguém lembrou. Talvez, como me respondeu meu amigo Samir Machado de Machado, para que a ideia de um livro amaldiçoado apareça na literatura, seja necessário que o livro esteja entranhado na cultura do país, condição que não maturou o bastante no Brasil.
P.S. 2 – Falando em livros e no Samir, neste fim de semana, sábado, dia 26, às 16h, na Paralelo 30 (Vieira de Castro, 48, próximo à Redenção, em Porto Alegre), vamos debater, eu e ele, seu romance recentemente reeditado: Homens elegantes, que mistura romance histórico, thriller de espionagem e temática queer. E cujo ponto de partida é, aliás, um livro – não maldito, mas proibido. Esperamos vocês lá.
Todos os textos de Carlos André Moreira estão AQUI.
Foto da Capa: Cthulhu / Somniturne