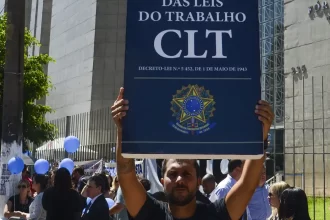Etarismo é um termo que evidencia as variadas formas de preconceito ou discriminação com base na idade. Manifestado em discursos, ações e comportamentos que promovem exclusões, compromete a saúde mental, emocional e o bem-estar das pessoas idosas. Antes de refletirmos acerca do preconceito associado ao envelhecimento, considero importante destacar três pontos relevantes à temática.
Primeiro, conforme a Organização Mundial da Saúde – OMS (2023), o envelhecimento populacional já é uma realidade e um problema mundial, representando hoje o principal fenômeno demográfico do século XX, com significativos impactos sociais, estruturais e econômicos para o desenvolvimento dos países e da economia mundial.
Segundo, estima-se que, até 2050, o planeta contabilizará 1,6 bilhão de pessoas idosas, quantitativo equivalente à população infantojuvenil de zero a 14 anos de idade. O envelhecimento da população mundial se evidencia como resultado direto da redução da taxa de natalidade e do aumento na expectativa de vida, consolidando-se como uma tendência global.
E, terceiro, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023) apontam que, até 2030, o Brasil terá 41,5 milhões de pessoas idosas, o que significa um aumento anual de 4% dessa população. Destaca-se ainda que, em nossas políticas públicas, tal população tende a aparecer dividida em dois grupos: idosos novos, pessoas entre 60 e 79 anos; e muito idosos, com 80 anos de idade ou mais – sendo este segundo subgrupo o que tem apresentado maior crescimento (BRASIL, 2023).
Logo, falar em envelhecimento populacional no nosso país exige [re]pensar os variados fatores e categorias de análise necessários para sua melhor compreensão. Sexo/gênero, raça/etnia, composição familiar, nível de escolaridade e de renda, além de cultura e territórios, entre outros, são recortes que viabilizarão formas corretas de se refletir acerca dos diferentes contextos envolvidos nos processos do envelhecer, bem como sobre as representações sociais da velhice em um país de extensão continental.
Destaco a importância de considerarmos ainda o fator orientação sexual, já que a qualidade do envelhecer está vinculada à cultura. Pessoas de orientação heterossexual, bissexual e homossexual envelhecem de forma igual ao considerar o fator biológico, sofrendo com os mesmos estigmas (Goffman, 1988). Porém, o mesmo não ocorre quando levamos em conta os fatores social e temporal. Tanto que, se para os heterossexuais o envelhecimento tem se dado, majoritariamente, no resguardo das famílias – representando uma responsabilidade, e quase obrigação, moral dos filhos –, para os homossexuais nascidos entre as décadas de 1960 e 1980, por exemplo, essa transição natural do ciclo vital tem se estabelecido em um universo cercado por medos, receios, isolamentos, solidão, vulnerabilidades e abandonos.
A partir do fator temporal, pode-se dizer que a história da homossexualidade no Brasil se divide em duas fases específicas: antes e após a redemocratização. Quem vivenciou o período do golpe militar – de 1964 a 1984 – sabe da impossibilidade de se autodeclarar homossexual. Tratados como desviantes da heteronormatividade (FOUCAULT, 2005), as “bichas”, “pederastas”, “veados desavergonhados” ou “corruptores de crianças”, como eram classificados na época, eram perseguidos, presos, ameaçados, humilhados e caçados como animais perigosos, quando não mortos.
Os supostos riscos oferecidos por esse segmento da população, considerado minoritário, eram eminentes para a suposta normalidade e honra heterossexista, argumento consolidado entre as famílias e reforçado pelo Estado, especialmente por meio da educação formal e da justiça. Não se pode esquecer também da contribuição da Igreja Católica, que sempre esteve associada ao Estado e foi cúmplice do golpe de 1964.
Com o advento da AIDS, na década de 1980, a homossexualidade passou a ser concebida como um risco de vida generalizado para a população, algo somente assemelhado ao pânico gerado pela pandemia da COVID-19. Dizia-se naqueles anos que o vírus se espalhava pelo suor, saliva, apertos de mãos, beijos ou uso de talheres. Edifícios, muros e logradouros públicos amanheciam pichados com frases condenatórias, alusivas a uma perversa vingança de Deus contra os “veados” e “enrustidos” (incluindo os bissexuais), que, desgostoso de sua própria criação, lançava sobre os mesmos a “praga gay”.
É evidente que, na voz dos conservadores, fascistas e falsos religiosos que ameaçam a democracia até os dias atuais, tal argumento se tornou uma poderosa arma de guerra. A doença seria a prova da ira divina contra os “anormais” e “pervertidos”, que transformaram as metrópoles em verdadeiras “Sodoma e Gomorra”. Entende-se, assim, que declarar-se homossexual nesse período de trevas, marcado pela ditadura militar, era quase uma sentença de morte.
Com o fortalecimento da democracia no país, o século XXI iniciou-se marcado por maior liberdade de expressão, garantia de direitos e lutas de classes – que pleiteavam dignidade e direitos igualitários, instituídos pela nova Constituição Federal (BRASIL, 1988). No período, o movimento GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) ganhava as ruas mundo afora; o mercado mundial despertava para o poder econômico do “pink money”; espaços de lazer e entretenimento mais democráticos eram criados; o arco-íris se consolidava como bandeira de luta; e a diversidade e a liberdade sexual se estabeleciam como motivos de orgulho.
Historicamente, as lutas dos movimentos sociais contribuíram significativamente para a efetivação das identidades homossexuais, também no Brasil, muitas vezes propagadas pelas novas gerações sem as devidas considerações a quem primeiro “deu a cara à tapa”. Não se pode negar o quanto as gerações nascidas e, consequentemente, beneficiadas pela efervescência e força da liberdade usufruem hoje dos direitos “conquistados a duras penas”. Exemplo disso é que as “Paradas da Diversidade” tiveram origem no histórico enfrentamento de frequentadores do bar Stonewall Inn contra a violência e a opressão da polícia, em Nova York, no dia 28 de junho de 1969. Foi exatamente esse sentido de comunidade que estimulou a população LGBT norte-americana a marchar 4,5 quilômetros em direção ao Central Park, no ano seguinte, exigindo visibilidade, respeito, dignidade e igualdade de direitos.
No esteio da luta que se espalhou pelos demais continentes, o Brasil realizou sua primeira Parada da Diversidade 27 anos depois, mais precisamente em 1997, no centro de São Paulo. O movimento reuniu cerca de duas mil pessoas que não precisaram da internet ou das redes sociais para exigir direitos. Era a causa, a ideologia, que nos movimentava e unia. Então, é certo dizer que, se hoje as pessoas podem se afirmar, anunciar ou autodeclarar abertamente e sem tanto receio como Gays, Agays, Afeminixs, POCs, Barbies, Bichas, Ursos, Lésbicas, Sapatões, Transexuais, Transgêneros e toda a infinidade do alfabeto romano, é graças aos “desviantes” das “décadas de chumbo”, vistos como motivos de vergonha e desonra para suas famílias e para a sociedade em geral.
Se hoje a homossexualidade é compreendida e afirmada, inclusive pela ciência e pelos governos, como uma expressão normal da sexualidade humana e comum entre todas as espécies animais, nas décadas de maior repressão os homossexuais eram tidos como anormais, doentes mentais, como descrito na Classificação Internacional de Doenças – CID [no período de 1977 a 1990], diagnosticada como subcategoria dos “Desvios e Transtornos Sexuais” [categoria 302]; e, anteriormente, como portadores de transtorno mental, pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM [desde sua primeira edição, em 1952, com aval e respaldo da Associação Psiquiátrica Americana – APA].
Na atualidade, os homossexuais passeiam livremente de mãos dadas por praças, parques e ruas; se beijam em público; festejam a união estável e o casamento; celebram a possibilidade de gerar seus filhos e de adotar crianças; desfrutam dos espaços midiáticos e se consolidam como influenciadores digitais e celebridades televisivas e cinematográficas sem precisar parecer o “bobo da corte”. E isso são conquistas mais que relevantes. Todavia, anteriormente eram obrigados a habitar as margens das cidades; confinados em bares e saunas clandestinas; impelidos a percorrer becos, esquinas e espaços insalubres; a recorrer aos cinemas que exibiam filmes pornográficos de conteúdo heterossexual; a interpretar personagens estereotipados, sofredores e/ou perversos nas novelas e filmes; forçados a omitir a própria identidade para garantir o posto de galãs e evitar a fúria do público; e a valorizar a invisibilidade como forma de preservar a própria integridade física, profissional, moral e social.
Em sua maioria, são esses homossexuais que lotam os consultórios de psicoterapia nas décadas atuais e que buscam, muitas vezes, na psiquiatria, alternativas rápidas para aplacar ou minimizar o sofrimento gerado pela exclusão e opressão vividas (MAIA, 2024). Tal processo, no entanto, exige ressignificação como forma de alcançar a autoaceitação. Mas são esses os sujeitos, marcados pelas diversas formas de violência, da infância à vida adulta, que enfrentam dificuldades no processo de adaptação a uma nova ordem das “sexualidades livres”, também rigorosa e regulatória.
Então, como “sair do armário” de maneira tão rápida, como exigido pelas novas gerações de homossexuais? É preciso considerar que falamos de indivíduos que sofreram para construir e se manterem presos a um rígido “personagem” ao longo de suas trajetórias. E agora, são exatamente esses homens que sentem dificuldade em revisitar a própria história, meio pelo qual conseguirão se perceber como vítimas de um sistema de tortura psicológica e social que tanto lhes causou [e ainda causa] ansiedades, angústias, depressão e mais uma gama de desestabilizações emocionais, bem como o comprometimento da autoestima, devido à não clareza do autoconceito e à distorção da autoimagem.
São esses seres humanos que, após anos de perseguição, violência institucional, moral e doméstica, se veem presidiários das próprias estratégias de sobrevivência. Vítimas de um jogo de negações perverso, impetrado, sobretudo, pelas famílias, onde imperava a regra do “faz de conta que você não é, que nós fazemos de conta que não sabemos”. Logo, é preciso que se pense: como manter a sanidade dentro de uma cultura que estimula a autovigilância constante das próprias posturas, gostos, expressões, comportamentos e desejos? Como crescer saudável quando, desde criança, se foi regulado através dos tão comuns, ainda hoje: “fale como homem”; “aprenda a ser homem”; “se comporte como homem”; “aja como homem”; “sorria, sente, coma, beba, durma, trabalhe, namore, case e morra como homem”?
Como um sujeito consegue se manter sadio e de bem com a própria identidade se, ainda na atualidade, amigos e parentes o parabenizam com o famoso e usual: “mas você nem parece gay”? Não seria essa uma expressão popular reforçadora da norma regulatória, pela qual se prega: “mesmo sendo gay, não demonstre”; “você é gay, mas não é afeminado, ufa!” ou “você disfarça bem, passa tranquilamente como homem” – valorização da opressiva passabilidade? E quando esses elogios se traduzem em: “mas você é tão bonito”; “nossa, como você é inteligente”, não seriam essas negações da identidade do homossexual? Não seriam formas implícitas de estabelecer o “nós te aceitamos, desde que não nos envergonhe”? Ou seja, não seriam essas formas de consolidar o jogo do faz de conta?
Além disso, como os homossexuais de gerações passadas podem desfrutar das conquistas pelas quais tanto lutaram se, agora, a velhice se apresenta como fator de exclusão no próprio universo LGBTQIAPN+, que os rotula como “maricona”, “maricona velha”, “tia velha”, “bicha velha”, “pagadora de boys”, “sugar daddy”? Como manter a autoestima estabilizada se o corpo não entra mais no “padrão estético” de beleza, saúde e “felicidade embalada”, produzidos pelo mercado?
E, especialmente, como estabelecer novas interações afetivo sexuais se os olhares que os procuram já não são de desejo, mas sim de censura ou crítica? Como garantir a qualidade do envelhecimento e do bem-estar se os espaços de interação social e afetiva não lhes pertencem mais e não os representam? Como festejar se as baladas e músicas não possuem compromisso com ideologias de luta? Combater o etarismo introjetado pelos próprios membros da referida comunidade não seria, então, uma bandeira digna?
Como interagir sexualmente se os modelos ativo-passivo [introjetados da cultura heteronormativa] estão diluídos na elasticidade das “novas autorizações” de vivências das sexualidades e desejos? Como cantar para aliviar as amarguras, desgostos, tensões e agruras da vida se as “divas inspiradoras” já se recolheram e foram substituídas por celebridades relâmpago e esvaziadas de conteúdo?
Essas e tantas outras perguntas e reflexões têm recheado as sessões de psicoterapia de sofrimento emocional e psíquico. Como é possível para esses homossexuais idosos ou em processo de envelhecimento se livrarem do complexo do “robocop-gay”, que garantia as performances menos afeminadas, ainda hoje alvo de rejeição, exclusão e repulsa? Como seria possível para eles se sentirem inclusos em um universo que, contraditoriamente, reclama por direitos de igualdade ao passo que promove exclusões pautadas nos mesmos recortes de classes econômicas, raça/etnia/cor, territorialidades, identidades e performances de gênero? Assim, como não se sentir injustiçado e violentado [mais uma vez] por não poder usufruir e/ou ser reconhecido por conquistas pelas quais se arriscou, e pelas quais muitos de seus amigos perderam a vida?
Tal dificuldade enfrentada pelos homossexuais de outrora é descrita por Ernesto Meccia (2022), sociólogo e professor argentino, como a “noção de gay-cidade”. O conceito caracteriza uma experiência social distinta da experiência social homossexual. Ou seja, tal noção resulta como herança de processos de desdiferenciação social que possibilitam processos diferenciadores no interior do próprio universo gay. Talvez esse seja um caminho para se pensar os processos de desdiferenciações e diferenciações sociais vividas e experimentadas pelos “novos gays” – em suas mais variadas expressões de identidades autodeclaradas – e os “últimos homossexuais” brasileiros.
Saliento que estas são apenas reflexões iniciais. Mas, ao mesmo tempo, me parecem sinais significativos de uma percepção tardia, aparentemente ainda negada pela sociedade e pela ciência no sentido da promoção da saúde física e psicológica dos homossexuais da “velha guarda”, que, por vários motivos, denotam dificuldades e certas resistências aos processos de mudança que se apresentam no próprio grupo social de pertença.
Para finalizar, considerando ainda a recomendação da OMS para o envelhecimento ativo e mais saudável da população mundial, ressalto a necessidade de, no Brasil, se [re]pensarem políticas públicas mais eficazes voltadas à sua promoção, considerando os quatro pilares que a sustentam: saúde, entendida como bem-estar biopsicossocial; participação, tanto social, como cidadã, cultural e espiritual; segurança/proteção; e aprendizagem ao longo do ciclo vital, seja essa formal ou informal.
Para tanto, é preciso investir na educação, meio pelo qual se reformulam as representações sociais e coletivas (Moscovici, 1989; Durkheim, 2011). Afinal, não falamos aqui de pessoas velhas (termo carregado de sentidos relacionados à inutilidade), mas, especificamente, de pessoas idosas (dotadas de dignidade). Também não falamos da terceira idade, já que o referido período etário vem bem depois da infância, da adolescência e da juventude; assim como não falamos da “boa idade” ou “melhor idade”, já que esta deve ser sempre a idade que se tem, e que se viva bem e plenamente no momento exato em que nos reconheçamos como pessoa humana.
E se as palavras têm força, não há justificativa para que o combate ao etarismo se transforme em bandeira de luta, também entre os homossexuais, independentemente de suas idades!
 Epitacio Nunes de Souza Neto é psicólogo, psicoterapeuta e professor universitário. Possui doutorado em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Doutorado em Psicologia pela Universidad del Salvador (USAL) de Buenos Aires, Argentina. Possui também mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Todos os textos da Zona Livre estão AQUI.
Foto da Capa: Gerada por IA.
Epitacio Nunes de Souza Neto é psicólogo, psicoterapeuta e professor universitário. Possui doutorado em Psicologia Cognitiva pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Doutorado em Psicologia pela Universidad del Salvador (USAL) de Buenos Aires, Argentina. Possui também mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Todos os textos da Zona Livre estão AQUI.
Foto da Capa: Gerada por IA.