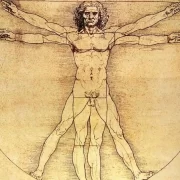Se não me falha a memória, o que é sempre uma possibilidade, a primeira vez que alguém me chamou de “senhor” foi ali por 1997, e a responsável foi a jovem atendente de uma videolocadora que havia na Marechal Floriano, próxima à esquina com a Jerônimo Coelho, no momento em que eu preenchia e assinava o cadastro para fazer uma ficha no local. Eu tinha uns 23 anos, cabelo abaixo dos ombros, barba desgrenhada e usava uma capa de chuva meio esmolambada, e a própria atendente não devia ser mais velha do que eu, mas ao assinar a ficha ela me agradeceu e disse “o senhor agora pode tirar qualquer filme da seção de acervo, mas tem um prazo de 24 horas para os lançamentos”, ou algo assim, o que me pegou de surpresa Naquele tempo, eu não era só jovem, mas tinha uma cara de guri que resolvi mitigar com a barba, numa época em que não apenas o slogan “faça amor, não faça a barba” ainda não havia surgido e muitas das pessoas que o disseminaram provavelmente nem haviam nascido.
Hoje, aos 50 anos e sem cabelo, o número das interações breves que me devolvem um “senhor” aumentou em proporção exponencial, claro. Mas não é esse o núcleo deste texto. Conto essa história porque talvez remonte a essa época minha curiosidade e fascínio por algo que todos aprendemos na escola, mas que, como muita coisa despejada naquele tempo, só vai fazer total sentido mais tarde: a especificidade dos pronomes de tratamento como pronomes pessoais que só fazem sentido dentro de um contexto específico das relações entre os falantes. Em palavras mais diretas: o modo como chamamos pessoas que não conhecemos nas interações cotidianas depende de muita coisa e revela, de modo inadvertido, muito do que pensamos e do que esperamos que os outros pensem sobre nós.
Regras
Pronomes de tratamento são coisa séria (na minha iconoclasta opinião, mais até do que deveriam), e há um sem número de regramentos e normativas disciplinando como você deve chamar autoridades do mais variado calibre, o que nos leva a uma espécie de dupla personalidade social que deixa bastante claro como funciona o abismo de classes no país: o Brasil tem fama de poucos salamaleques na vida cotidiana, mas em instâncias oficiais, informalidade é privilégio demarcador de classe. Ninguém vai chamar às falas uma “autoridade” por tratar alguém por “tu” (ou “tutear”, como dizem os espanhóis), mas a recíproca não é verdadeira. Aliás, um dos meus escritores favoritos, Arturo Pérez-Reverte, escreveu algo parecido faz uns meses na sua coluna no suplemento semanal XL do ABC da Espanha (leia aqui). Lamentavelmente, como outros escritores que admiro, Pérez-Reverte se revela no tom geral do texto de uma babaquice formalista tremenda, escandalizando-se com a disseminação geral do hábito da informalidade (ele chama de “vulgaridade”) na sociedade espanhola:
“Outro dia, na televisão, numa cerimônia oficial de toga e protocolo, ouvi um Ministro da Justiça dirigir-se aos juízes de forma familiar. Vocês, nós, etc. Todos compadres, como se os magistrados e ele tivessem criado porcos no mesmo chiqueiro. Tudo muito natural, de qualquer maneira. Muito próprio dos ministros e também juízes que o consentem, como da própria vida espanhola. Aqui, chama-se um juiz de “você” no tribunal e o mundo te cai em cima, mas um político pode chamá-lo de indecente e no máximo se erguerão sobrancelhas em desaprovação.”
Parêntese: esse texto me leva a concluir que europeu de modo geral é arrombado mesmo quando é legal. Fim do parêntese. Esse texto de Pérez-Reverte e esse ângulo particular da questão poderiam ser atribuídos a um certo excesso de formalidade europeu, bem longe do nosso “jogo de cintura tipicamente brasileiro”, mas no centro temos uma discussão ainda em pleno debate nos dias contemporâneos. O uso de pronomes muito familiares ou informais dirigidos a pessoas de autoridade é muitas vezes referido em tom de alvoroço como um sintoma de uma “falta generalizada de respeito” em nosso mundo contemporâneo. O que até poderia ser, se muitas vezes a noção de respeito utilizada nessa definição não fosse a boa e velha distinção de classes que herdamos dessas mesmas sociedades europeias onde podemos encontrar esse exótico exemplar do grande escritor que se horroriza com o modo como o povo faz uso do idioma.
Fórmulas
Acho esse tipo de pensamento reacionário e vazio. Sou completamente favorável a fórmulas simples de interação, como “por favor”, “com licença” e “obrigado” – não, não me venham com essa invenção ignorante de “gratidão”. Mas também acho que é possível ser absolutamente respeitoso chamando alguém de “você” (embora, e aqui confesso minhas próprias idiossincrasias na matéria, já acho mais difícil que se possa se afirmar o mesmo usando o nosso “tu”, muito agressivo e familiar para uso amplo). E muitas vezes é, não só possível, como muito provável, que os termos demarcadores de respeito sejam, na verdade, uma distinção para delimitar uma fronteira hierárquica, algo bastante comum em sociedades monárquicas e nobiliárquicas europeias, mas que só sobrevive no Brasil porque este é o país em que qualquer mediação oficial entre o poder e os cidadãos parece pensada para manter ativo e operante o fosso social brasileiro. Basta ver o quanto no Brasil muitos conservadores que reclamam a restauração de certos “princípios e valores básicos” fundados numa ideia antiga de “respeito” aderiram à verdadeira antítese dessa ideia que é o ex-presidente de recente memória que falava um palavrão e proferia um xingamento a cada cinco palavras. Traduzindo: para muitos desses, não interessa a ideia geral de “volta do respeito”, e sim a obrigação de vocês aí me respeitarem.
Contextos
Mas, sinceramente, esse aspecto específico da questão acho chato e não estou a fim de entrar, já disse o que pensava a esse respeito. Me interessa mais o que os tratamentos informais dizem a respeito do contexto das relações. Como você diz obrigado para a moça do caixa num posto 24 horas? Como você chama o garçom (o Skank tem até uma música com uma lista de possibilidades, lembra? “Comandante, capitão, tio, brother, camarada, chefia, amigão“, aparentemente vale tudo, menos o óbvio, “garçom”). Há um limite de idade para um tipo de tratamento? Como você chama o cara que te pede esmola? E, claro, como você reage à forma como eles chamam você?
Lá pelos anos 1990, chegou a gerar alguma discussão a recorrência com que crianças eram estimuladas a usar a palavra “tia” ou “tio”. Crianças em situação de rua chamavam de “tio” qualquer adulto a quem pedissem esmola (aliás, o Skank, como qualquer frequentador de bar que chama o garçom por mil apelidos em vez de simplesmente “garçom”, também tem uma música em que admite que “tá cansado de dar esmola”. Não acho que seja coincidência). Crianças chamavam professoras de “tias”, e havia uma grande discussão sobre essa imposição de um vínculo “familiar” a profissionais que estão ali para educar. Com o declínio das discussões no campo da educação e a vilanização geral dos professores pela sociedade, acho que ninguém mais dá bola para isso.
Senhoria
No meu caso pessoal, o único pelo qual eu poderia enfocar este texto já que esse é o tipo de pesquisa sociológica extensa que não cabe numa coluna semana, tendo a chamar quase todo mundo que não conheço de “senhor” quando em situações formais, como conversas profissionais, entrevistas etc. É uma imposição de simples formalidade que comecei a exercitar já nos meus primeiros tempos de repórter, justamente para demarcar uma distância necessária: o repórter não está ali a serviço de ninguém ou como amigo de ninguém, mas como uma testemunha (não digo “imparcial” porque isso não existe de fato, mas tentando uma certa “neutralidade sem preconceito” já serve).
Quando eu era repórter de polícia, isso funcionava muito bem, mas sofri bastante ao entrar no jornalismo cultural, este mundinho tão descolado em que todo mundo só quer ser chamado pelo primeiro nome e detesta a formalidade justamente pela forma como ela remete à ideia de manutenção de hierarquias que falei no início deste texto. Isso nunca impediu, claro, de eu encontrar alguns sacanas e um ou outro filho da mãe, mas nenhum deles exigia ser chamado de senhor, como muitos outros tipos de calhordas de outros campos de ação exigem no trato com porteiros e recepcionistas, por exemplo.
Também sempre chamei gente mais velha do que eu de “senhor”. Como fui ficando mais velho do que todo mundo à minha volta numa profissão obcecada pela juventude, precisei em certo momento decidir o que faria, uma vez que um quarentão chamando um estudante de 20 de senhor me pareceu sempre o suprassumo da ironia sarcástica, mesmo quando há essa intenção. Aliás, ainda no capítulo da “ironia de afeto”, era comum nos anos 1990 entre os héteros da minha geração chamar a namorada de “senhoura” num tom jocoso. O contrário não, porque, embora seja tida como uma forma “neutra” de respeito, “senhor” também é uma clara característica hierárquica não apenas por razões históricas, mas pelo uso que os religiosos ainda fazem do termo quando se referem a seu poderoso chefão imaginário sentado nas nuvens. Nesse contexto, nenhuma ironia salvaria a possibilidade de uma jovem chamar seu namorado de “senhor” quando tem muita doutrina fundamentalista cristã querendo que isso role a sério.
Aliás, também por isso as experiências socialistas tentaram abolir a senhoria da linguagem entronizando a possibilidade do “camarada”, numa forma de tentar preservar a cortesia sem cair no vocabulário hierárquico da sociedade classista anterior. Essa foi uma discussão que mesmo as revoluções burguesas precisaram enfrentar. Na dos Estados Unidos, discutiu-se como seria oficialmente chamado o presidente em qualquer conversa, se deveriam ser mantidos os títulos de inspiração nobiliárquica que a anterior monarquia inglesa. Chegou-se à fórmula “Mr. President”, sem, na maioria das vezes, o “excelentíssimo” e outros rapapés equivalentes que são moda aqui no Brasil. Já na França, anos depois, também a senhoria foi temporariamente cancelada e, em tese, todo mundo era “cidadão” no auge da Revolução. Como no caso da Revolução Russa séculos mais tarde, também essa tentativa de linguagem “não hierárquica”, não durou.
Camadas
Penso que aí entra um elemento psicológico que conhecemos bastante aqui no Brasil: uma das únicas possibilidades de um ralado se sentir justificado com a sua condição é haver alguém ainda mais ralado abaixo dele, e isso precisa ser demarcado de alguma forma, nem que seja no fato de que alguém, em alguma situação, vai ter que chamar outro de senhor por mais que esse outro esteja submetido pela dinâmica da sociedade em outros momentos. Leiam As Ideias Fora de Lugar, de Roberto Schwarz, para compreender como esse tipo de mentalidade se desenvolveu em uma sociedade como a nossa, com sua economia por tanto tempo baseada na instituição escravista.
Voltando: com o envelhecimento, fui graduando os modos de tratamento. Não chamo ninguém de “amigo” ou de “amizade” a não ser que seja fato meu amigo, por mais que essa palavra tenha sido malbaratada na era das redes sociais. Em situações informais, chamo pessoas mais velhas de “professor” ou “professora”, sendo professores ou não. Gente da minha idade, de “mestre”. Os mais jovens, simplesmente “jovem”. Já me acostumei a ser chamado muito de “senhor”, mas ainda encontro aqui e ali gente mais velha que me chama de “guri” – circunstância cuja raridade hoje reveste sempre o momento de uma comicidade calorosa. Chamo qualquer um de “mestre” porque esse é um título e também um reconhecimento de que determinada pessoa tem algo a ensinar. E, claro, dependendo da situação, do ponto de vista e da boa vontade, você em tese poderia aprender algo com qualquer pessoa, por isso uso esse tipo de saudação com quase todo mundo.
E por que todos esses modelos parecem conter tanta “formalidade” já que vivemos na sociedade informal e malemolente do Brasil? Porque, como eu já disse antes, o Brasil não é assim, ele apenas joga com o duplipensar “informalidade/respeito” para demarcação precisa de classe. O pensamento por trás disso foi expresso sem vergonha alguma pelo mesmo Pérez-Reverte lá do início naquele texto algo triste que eu já citei:
“Não se trata de agir como um elegante casal francês, meus amigos, que em público sempre se tratam por “vous”, mas de manter sensatamente fórmulas de respeito que melhorem as relações humanas e coloquem as coisas no seu devido lugar.”
As coisas no seu devido lugar. Aí, eis a centralidade talvez inadvertida do argumento: por trás da maioria das fórmulas de cortesia numa sociedade sem corte como a brasileira está esse ímpeto ancestral e algo colonial de marcar bem os lugares permitidos e os interditos. Não é adequação de discurso, o que é ótimo, é demarcação de fronteiras.
Numa sociedade assim, até mesmo a informalidade é privilégio.
Mais textos de Carlos André Moreira: Clique aqui.