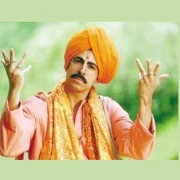Ao caminhar pelo centro nesse último final de semana e retornar à Casa de Cultura Mario Quintana, depois de sua reabertura após as enchentes de maio em Porto Alegre, vi que ainda é possível identificar as marcas da altura que a água atingiu. Acho que elas não devem ser apagadas, precisam permanecer ali. Eu, que felizmente não tive perdas materiais pessoais com tudo que ocorreu, que não vi a água chegar perto da minha casa, não pude sentir dessa forma visceral que milhares sentiram. Enxergar as marcas que simbolizam um evento traumático mobiliza afetos, desacomodam esquecimentos. Esquecer é uma saída e um perigo. A memória nos lembra do que não queremos repetir. Lembrar para modificar tem um efeito profundo, mas que não se alcança sem muito esforço e trabalho interno.
Comparando esse evento traumático coletivo com outro ainda recente, a pandemia de COVID 19, lembrei daqueles meses em que os telejornais traziam diariamente os dados sobre número de óbitos, número de novos casos, número de curados. Acompanhávamos no início incrédulos e depois – talvez – quase anestesiados com algo que passou a ser o tal “novo normal”. Falávamos sobre humanidade, sobre coletividade, sobre cuidado ao próximo, sobre a evolução que o ser humano poderia adquirir com esse evento. Em maio último, as notícias diárias que nos afogavam pelas redes sociais e televisão eram as marcas da altura da água. Aquela angústia medida em centímetros que nos eram incessantemente trazidos à consciência. Isso exaure, ainda que necessário. Assim, as marcas vão se imprimindo em nós, nos pondo em relevo, em depressões, aclives e declives. Corpos marcados por acontecimentos de dentro e de fora.
Então, eu parto para as marcas na nossa pele, as cicatrizes, rugas, manchas e sinais. Ouvindo uma conhecida com menos de 30 anos comentar que no dia anterior tinha ido à dermatologista retocar o seu botox, fiquei pensando sobre as marcas que a geração jovem de agora não chegará a conhecer, não antes que cheguem impiedosamente, mas para elas não aos 40 como foi para mim, mas talvez (ou não) aos 60 ou 70. O que isso quer dizer? Senti um certo pesar (ok, e um pouco de inveja também, admito) pelo fato de imaginar que ela não irá se perceber mudando, sentindo o olhar no espelho se transformar, sentir o estranhamento de se enxergar cada vez mais parecida com uma mulher madura do que com uma adolescente. Eu sempre achei interessante – eu disse interessante e não agradável – me enxergar mulher. E acho que essas marcas, assim como as da água das enchentes e as dos números do COVID, deveriam ser aliados para nos manter alertas. Alertas para viver, para lembrar que o tempo passa, que a vida corre depressa, e que antes de buscar um “gerenciamento do envelhecer” como já escutei por aí, é preciso buscar realização pessoal, arte, entusiasmo, aprendizados.
Se desprezamos as marcas, os sinais, o tempo, a água, o vírus, nos pegam de surpresa e dizemos que nem aproveitamos a vida, ocupados demais em não perder tempo, em fazer dinheiro, em parecermos belos e dentro de um padrão apertado demais que nossa sociedade nos coloca, especialmente as mulheres.
Marcas são aliadas. Não precisam ser brutais, como em pandemias ou enchentes. Com sorte e empenho, podemos desenvolver ou acessar recursos que as tornem mais suaves para ouvirmos os avisos lentos, mas inevitáveis, de que a vida acaba.
Foto da Capa: Freepik
Mais textos de Luciane Slomka: Clique aqui.