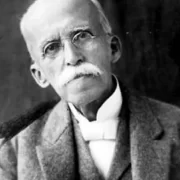Voltando ao livro: dessa leitura tardia, ficou a noção de que, ao menos em termos de construção simbólica, o romance é mais complexo do que simplesmente um “plágio de Moacyr Scliar”, como foi divulgado pela imprensa internacional na ocasião em que Martel foi premiado com o Man Booker Prize. De fato, o próprio Martel admitiu mais tarde haver retirado a imagem do homem em um bote confrontando um predador selvagem de uma das partes de Max & os Felinos. Martel não leu o livro, leu apenas a descrição da imagem em uma resenha da edição americana, que dizia aliás, que o livro de Scliar era ruim, e se apropriou dela para seus próprios propósitos artísticos. Aliás, nem sei se essa parte é verdade, porque ele havia dito que a resenha que lera era a de John Updike, e quem foi atrás da verdadeira resenha do John Updike viu que não podia ser aquela, porque para Updike o livro era bom.
Scliar inicialmente até pensou em processar o autor, dado que os comentários de Martel na ocasião foram bastante deselegantes. Após alguns anos, Scliar meio que deixou pra lá e chegou a manifestar-se publicamente em 2009, comentando que apropriações eram parte do jogo literário – e que Martel não tinha feito apenas o necessário reconhecimento (mais tarde incluído em uma nota em edições posteriores). Mas ao ler o livro, chamou-me mais atenção não a apropriação da obra de Scliar, mas outra realizada pelo autor no mesmo livro, a de Robinson Crusoe, um dos livros fundadores do romance moderno e a história paradigmática de sobrevivência em circunstâncias adversas.
Origens dos romances
Em seu estudo A Ascensão do Romance, Ian Watt comenta que a chave para entender o grande mito literário que é Robinson Crusoe é o modo como a história do náufrago narrada por Daniel Defoe realiza, no plano literário, a oportunidade única de concretizar o grande anseio da civilização moderna: “a absoluta liberdade econômica, social e intelectual do indivíduo”. Crusoe é o romance burguês liberal por excelência, e seu protagonista é o herói necessário para a modernidade industrial e capitalista que nascia com ele: o europeu razoavelmente comum que, munido de habilidade e engenho, transforma e domina a natureza hostil, não apenas sobrevivendo nela, mas dela tomando posse para uso em seus próprios termos. Claro que Crusoe, como Watt não deixa de ressaltar, não domina a ilha sozinho, mas amparado no legado do engenho humano, ao ter acesso ao estoque de ferramentas que consegue salvar do naufrágio – uma ideia que retorna em um outro filme famoso inspirado em Robinson Crusoe, O Náufrago, estrelado por Tom Hanks (que, embora não assuma a adaptação abertamente, é eivado do espírito do livro, quer os produtores que o financiaram tenham lido a obra ou apenas ouvido falar de um resumo da história).
Espelhando a retórica colonialista que até hoje sobrevive em boa parte do discurso “meritocrático” neoliberal, por exemplo, Crusoe recebe do acaso os meios e as ferramentas, mas são sua vontade e o intelecto “superiores” de homem “civilizado” que garantem a ele a predominância natural tanto sobre o ambiente quanto sobre o outro ser humano que cruza seu caminho. Como diz Watt:
“Mesmo quando já não está sozinho, sua autarquia pessoal permanece – na verdade aumenta: o papagaio grita o nome do dono; Sexta-Feira espontaneamente jura ser seu escravo para sempre. Crusoe imagina-se monarca absoluto, e um visitante chega a perguntar se ele é um deus”.
O náufrago do terceiro mundo
A Vida de Pi é, a seu modo, a inversão desse processo. O jovem Pi Patel, garoto indiano que está migrando para o Canadá com a família, naufraga e passa mais de 200 dias à deriva a bordo de um bote que, primeiramente, divide com o tigre chamado Richard Parker, uma hiena, uma macaca e uma zebra. Previsivelmente, à medida que os dias passam, a luta natural se instaura, a hiena mata a zebra e a macaca, e é, enfim, morta pelo tigre. Restam apenas Pi e o tigre, um magnífico animal descrito para simbolizar a força e a majestade do mundo natural diante da frágil criatura humana. Pi, contudo, sobrevive. Em parte porque, assim como o Crusoe da história de Defoe, sabe aproveitar e lançar mão das coisas que o engenho de outros preparou para ele (boias, rações náuticas, cordas, remos). Só que, se Crusoe conseguia sobreviver e dominar o ambiente em termos monárquicos, levando a efeito a ideologia do homem branco europeu civilizador que tornou o livro tão popular, Pi é o anti-Robinson Crusoe porque não é o elemento mais forte na equação.
Se Crusoe, com seu espírito empreendedor europeu, se dá ao luxo de rebatizar de Sexta-feira o outro homem que encontra porque não está interessado em aprender seu nome, Pi, ao contrário, só consegue permanecer vivo por tanto tempo pelo conhecimento que uma vida passada no zoológico legou-lhe a respeito do animal como um “outro”. Não é o ambiente, a paisagem nem os demais que se curvam voluntariamente ao engenhoso senhor, é Pi quem precisa ser astucioso para, dentro das regras do mundo animal, transformar o bote em que navegam não em seu reino particular, mas em uma reprodução passável da jaula que o tigre habitava no zoológico antes do naufrágio.
Pi derrama a própria urina sobre a parte do bote coberta por uma lona, tem sucesso em pescar e não se alimenta dos peixes que apanha, mas os oferece regularmente a Richard Parker, reservando para si as rações de bordo. Sob esse prisma, Pi não é o europeu independente, é o natural do terceiro mundo sobrevivendo graças a uma complexa e brutal relação de “dependência” com o animal mais forte. Não deixa de ser irônico pensar nisso ao constatar que o romance, lançado aqui inicialmente como A Vida de Pi, mudou seu nome em edição posterior para As Aventuras de Pi, o nome da adaptação cinematográfica de Ang Lee, em mais uma clara mostra da relação sobrevivência/subserviência, desta vez do combalido mercado editorial ao . Mantive, nestas notas, o primeiro nome do livro, e sim, foi por pura teimosia, se você está perguntando.
Os silenciados
Tivesse parado por aí, talvez A Vida de Pi fosse o grande livro que quase chega a ser, mas há uma outra dimensão que se sobrepõe, e é, a meu ver, a grande responsável pela insatisfação com o conjunto: o caráter doutrinário religioso. Sem dar muito spoiler, se possível, mas vamos lá. Ao tecer o que parece uma fábula a respeito da dominação, invertendo os sinais de um mito literário fundador do romance no ocidente, Martel a transforma em uma opção dentro de um conflito de versões que pede ao seu leitor que, a exemplo do narrador do romance, escolha entre qual história, ou “realidade”, prefere.
Alguns viram nesse artifício uma afetuosa declaração de amor à literatura e seu potencial mágico de maravilhamento. Mas, assim como Crusoe, em que pese sua grande capacidade de maravilhar seus leitores, não é um livro neutro do ponto de vista ideológico, A Vida de Pi urde a reviravolta final de tal modo na descoberta espiritual do protagonista que a escolha final não é sobre a imaginação versus a crueza da realidade, é sobre o mundo como ele é e a dimensão metafísica de Deus – o que torna a submissão de Pi diante do elemento mais forte no bote não apenas uma alegoria política do mundo contemporâneo, mas uma forma velada de evangelização. O que é extremamente empobrecedor quando comparado com outra experiência de inversão da história de Crusoe: Foe, de J.M. Coetzee.
No romance de Coetzee, é também o “outro” o centro do relato de Crusoe: sua protagonista, Susana Barton embarca em uma viagem náutica em busca de uma filha raptada, naufraga após um motim e vai parar na mesma ilha em que já estão Crusoe e Sexta-Feira. Depois que o trio é resgatado, e Crusoe morre antes do retorno à Inglaterra, ela tenta relatar suas aventuras, torna-se amante do escritor Daniel Foe, a quem pede ajuda para tratar seu manuscrito, mas que transforma a história na narrativa das aventuras do falecido Crusoe.
O Sexta-feira do romance de Coetzee é um homem privado da palavra ao ter sua língua cortada. Foe (sobrenome real do escritor Daniel “de Foe” e também, convenientemente, uma das palavras inglesas para “inimigo” ou “adversário”) reproduz, simbolicamente, essa atrocidade ao privar Susana de sua voz literária e substituí-la pela do clássico Crusoe. A temática de Foe não é a linguagem do divino expressando-se na ficção ou no maravilhamento, é, antes, a tematização do silêncio oprimido. O aborígene Sexta-Feira e sua incapacidade de comunicação – que resiste mesmo às utópicas tentativas de Foe de ensiná-lo a escrever – é um toque patético que, em vez de reduzir seu personagem diante da metafísica ou forçar tanto o narrador como seu leitor a uma escolha entre duas versões da mesma história (como o livro de Martel), arrisca a completar os vazios da história original, trazendo à tona, por espelhamento, seus sentidos ocultos.
O que não deixa de ser um exemplo bastante ilustrativo de quem chegou mais perto daquilo que chamamos de “grande arte”.
PS: Eu ia escrever sobre as Olimpíadas, sobre como já tivemos a extrema direita reclamando de paganismo e blasfêmia numa cerimônia de abertura de uma competição esportiva com inspiração em festivais sagrados literalmente pagãos, ou sobre como a tecnologia de imagens contemporânea parece ter corroído a capacidade geral do público de reconhecer o que é montagem e o que não é, ao ponto de muita gente estar dizendo sem vergonha nenhuma que a foto fantástica do Gabriel Medina feita pelo francês Jerome Brouillet, uma imagem para entrar, com certeza, na história dos registros icônicos dos jogos em qualquer época, que aquela foto é… montagem. Como eu disse, eu até pensei em falar dessas coisas, mas outros colegas aqui da Sler já abordaram os Jogos e eu ando tentando focar mais minha atenção no que eu gosto de fato e menos em dar atenção pra gente idiota, e cada vez mais há idiotas em toda parte, então decidi me refugiar na torre de marfim da literatura, onde é aceitável eu publicar considerações extemporâneas sobre romances velhos de décadas ou de séculos e não estou nem aí…
Mais textos de Carlos André Moreira: Clique aqui.