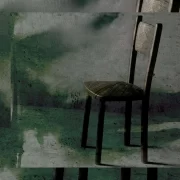* No ano em que começou a pandemia, em janeiro, mais especificamente, eu estava lendo Metrópole à Beira-Mar: o Rio moderno dos anos 20, de Ruy Castro, um livro feito para, declaradamente, contrapor o esforço contínuo de propaganda para vender a narrativa de que antes do Modernismo paulista tudo no Brasil era mato. Ruy Castro defende que a Semana de 1922 até pode ter sido revolucionária para uma São Paulo tacanha e meio jeca, mas que o cosmopolita Rio Capital Federal já era moderno muito antes disso. Ruy começa seu livro por um evento que considera indicial dessa narrativa, o louco carnaval de 1919, demarcador involuntário de várias transformações culturais que a cidade viveria. Segundo Ruy, um dos motivos para que esse Carnaval de 1919 tenha sido tão marcante e tão maluco era o fato de a cidade querer exorcizar nas folias os miasmas pesados de uma década traumática: em especial pela cruenta Grande Guerra, que mais tarde conheceríamos como I Guerra Mundial, e pela Gripe de 1918, também chamada Gripe Espanhola. A descrição de Ruy dos brutais efeitos da chegada da doença à cidade tinha ainda naquele período em que recém começava a se falar de uma nova epidemia em Wuhan, na China, um certo caráter fantástico de distopia:
“A morte em massa começou a gerar consequências que ninguém podia controlar. Sem leitos suficientes nos hospitais da cidade, os doentes eram amontoados no chão das enfermarias e nos corredores. Muitos morriam antes de serem atendidos. Os hospitais foram fechados às visitas e, nos enterros, só se permitia a presença dos mais próximos. Mas logo deixaria de haver espaço para condolências. Em pouco tempo, os velhos rituais — velório, cortejo e sepultamento — ficaram impraticáveis. As casas funerárias passaram a não dar conta. Viam-se carros transportando caixões com tábuas mal pregadas, indicando que tinham sido feitos às pressas. Então, começou a faltar madeira para os caixões e gente para fabricá-los. As pessoas morriam e seus corpos ficavam nas portas das casas, esperando pelos caminhões e carroças que deveriam levá-los. Os motoristas e carroceiros os recolhiam na calçada e os atiravam nas caçambas como se fossem sacos de areia. Às vezes, descobria-se que alguém dado como morto ainda respirava — era liquidado ali mesmo, a golpes de pá, antes de o veículo sair, mas houve casos de enterrados vivos. Nos necrotérios, os corpos jaziam empilhados por dias sobre as mesas de mármore ou no chão. Os recolhidos na rua, sem identificação, eram despejados em valas comuns ou incendiados. Os coveiros também começaram a morrer. O Exército e a Cruz Vermelha os substituíram como voluntários e, por toda a cidade, armaram-se hospitais emergenciais e postos de atendimento. Deixou de haver remédios. Através dos jornais, que continuaram a circular mesmo que reduzidos a poucas páginas, a população era aconselhada a evitar os trens, bondes e ônibus — que andasse a pé, se pudesse. Rogava-se que ninguém tossisse, espirrasse, cuspisse ou se assoasse em público — inútil, porque, já então, a cidade era uma tosse em uníssono. As aglomerações foram desestimuladas e, com isso, a vida desapareceu: fábricas, lojas, escolas, teatros, cinemas, concertos, restaurantes, bares, tribunais, clubes, associações, até bordéis, tudo fechou. A Avenida Rio Branco, a Rua do Ouvidor, a Praça Tiradentes, pareciam cidades-fantasma.
Duas semanas depois de eu haver lido esse trecho, no dia 30 de janeiro, a OMS declarou que o surto da infecção provocada por um novo coronavírus (que ainda demoraria algumas semanas a ser chamado de SARS-CoV-2) constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta na escala da organização. Depois disso, tocaria a nós, os contemporâneos desta quadra infeliz da História, viver parte das mesmas angústias e testemunhar os mesmíssimos horrores da Gripe de 1918, com mais de um século separando as duas épocas.
* As notícias dos primeiros casos em Wuhan já vinham circulando desde dezembro e chegavam na redação em que eu trabalhava pelos arquivos enviados pelas agências internacionais. Mas o jornal só foi começar a levar a coisa a sério ali por final de fevereiro, início de março, quando começaram a chegar as notícias sobre o caos que se vivia no interior da Itália, para onde a doença havia se transferido com força – ouvi uma editora, de sobrenome italiano, aliás, dizer textualmente numa reunião de pauta no fim de fevereiro que agora sim o assunto deveria ser capa e página central do caderno de saúde, porque o aumento do número de casos na Itália era de interesse da população do Rio Grande do Sul (“não temos imigrantes chineses”, foi a resposta que ela me deu quando questionei por que a erupção da crise na China não havia recebido o mesmo interesse antes, mesmo com a OMS colocando os alertas no máximo).
No ano em que começou a pandemia, essa obsessão eurocêntrica pela Itália foi a responsável pelo primeiro caso confirmado da doença no Brasil, em 25 de fevereiro. Depois disso, o monitoramento de outros 20 casos suspeitos foi anunciado logo no dia seguinte – 12 deles, gente que havia ido para a Itália. O primeiro caso registrado no Rio Grande do Sul, no dia 10 de março, foi o de um cara de Campo Bom que também havia passado uma semana na Itália no mês anterior. Não consegui deixar de pensar nisso enquanto curtia uma leve Schadenfreude ao tomar conhecimento da notícia de que agora a Itália aprovou uma lei acabando com a farra do passaporte italiano e tornando sua obtenção mais difícil.
Em março, os Estados Unidos também concentravam casos. No Brasil, começaram as primeiras mortes. E nós ainda trabalhávamos na redação do jornal. Com o aumento dos casos suspeitos e as primeiras confirmações da doença no Estado, foram feitas as primeiras escalas de teletrabalho para pessoas idosas ou que apresentassem algum fator de risco conhecido. Curiosamente, eu, uns 20 quilos mais gordo do que agora na época (e agora eu já não sou nenhuma sílfide), não fui incluído no rolê porque ainda não se sabia, como se veria a saber depois, que obesidade era um dos mais perigosos fatores de risco. Que bom que tive sorte, ou, como muito mais gente, eu talvez não tivesse sobrevivido ao ano em que começou a pandemia.
* Quase na última semana de março, finalmente instalaram um VPN no meu computador pessoal e eu comecei a trabalhar de casa. Me lembro de olhar para aquela sala já quase vazia antes de ir embora e pensar se haveria alguns de nós que não voltariam depois que a crise passasse. Minha preocupação era com potenciais vítimas, mas o jornal, em sua sabedoria pragmática, se podemos colocar assim, garantiu que meu pensamento virasse realidade por outros meios, presenteando 30 de nós com um lindo passaralho dois meses depois. Não me incomodei com a saída, trabalhar naquele lugar havia se tornado de uma chatice infinita nos 12 ou 24 meses anteriores – informações colhidas de alguns sobreviventes posteriormente me garantiram que nos anos seguintes o ambiente piorou bastante, então acho que tive sorte no meio de uma crise, de novo. Claro, ali naqueles meados de maio, o que me incomodava não era sair, o que foi bom, eram as brutais restrições que havia para sair na rua e procurar um novo emprego. Obrigado por isso, meus arrombados superiores hierárquicos, sem ressentimentos.
Mas antes disso, passei dois meses numa força-tarefa que tentava coordenar online, com cada um num canto, o fechamento diário do jornal. Algo que me fez admirar muito quem estava na linha de frente da informação, e que naqueles dias eram basicamente os fotógrafos – os repórteres apuravam por telefone, mas para registrar imagens naqueles anos ainda sem IA (ah, que saudade), era inescapável que os fotógrafos percorressem as ruas semidesertas. Meus respeitos a eles.
No ano em que começou a pandemia, minhas lembranças a partir desse ponto se tornam um borrão indistinto que se prolonga por boa parte dos dois anos seguintes. Teve uma época em que não sabíamos muita coisa sobre os métodos de transmissão, então se tomava banho de álcool gel na entrada de casa, trocavam-se roupas com que se havia chegado da rua. Sei de gente que dava banho no saco de miojo, com direito a detergente e tudo (aqui não chegamos a tanto, mas usávamos álcool em spray para praticamente tudo). Nos intervalos do teletrabalho, quando se precisava resolver coisas na rua, saíamos de máscara e, no meu caso, já a esta altura plenamente consciente de que os gordos estavam apanhando feio da doença, com um faceshield.
Apesar dessa falta de memória pontual e da vaga apreensão pelo futuro que senti na época da demissão, sei que estive em melhor situação do que muitos – tive como segurar a onda em casa, por exemplo (aliás, descobri na marra que amava o teletrabalho, ao contrário de muita gente que eu conheço).
* No ano em que começou a pandemia, estabelecimentos tentaram sobreviver montando sistemas de tele-entrega. Ondas de solidariedade se organizaram, recolhendo donativos para levar a pessoas em situação vulnerável. Vizinhos tocavam música uns para os outros nas janelas. Parecia, se você focasse apenas no episódico, como infelizmente muitos setores da imprensa fizeram, que de fato aquela lenda de que sairíamos melhores depois da crise se confirmaria. Mas claro, embora livros como o do Ruy Castro que eu mencionei no início sejam pródigos em descrever a epidemia de 1918 em detalhes angustiantes, eles nunca nos prepararam para aquilo que nós mesmos veríamos no ano em que começou a pandemia: haveria mais gente disposta a defender o vírus do que poderíamos imaginar.
Ainda em março, entraram em campo como uma tropa de choque do capitalismo predatório, organizada a serviço do vírus. Roberto Justus, renascido das cinzas de vários escândalos anteriores que o tornaram até mesmo alvo do Ministério Público, veio a público condenar o isolamento social como forma de conter a pandemia – sim, porque nessa época a OMS já havia confirmado com todas as letras: era uma pandemia. Assim como ele, também deram um jeito de insinuar que trabalhadores que não voltassem poderiam perder o emprego, o Véio da Havan, o dono da rede de restaurantes Giraffas, o dono do Madero. Não por acaso, na mesma época em que esses senhores se sentiam confortáveis em, do aconchego de suas mansões, torpedear normas de saúde numa crise sanitária que se anunciava sem precedentes, o oligofrênico-mor da nação publicou uma MP permitindo suspensão de salários de trabalhadores por quatro meses. No meio de uma pandemia. Nesse caso, o energúmeno que nos governava recuou, mas passou aquele ano mesmo criticando as medidas de seu próprio Ministro da Saúde, fazendo propaganda de remédios sem eficácia comprovada e depois boicotando programas de vacinação.
* Há uma cena no meu romance Tudo o que Fizemos (2009) na qual um dos personagens principais, Sandro, o metido a intelectual da história, fica perplexo ao ouvir seu colega de escola Getúlio, um garoto que teve uma vida mais rústica morando em um distrito rural da cidade de Interior em que ambos vivem, contar, a sério e sem nenhum pingo de ironia, que viu um lobisomem de verdade. Essa passagem especificamente foi inspirada em minha própria perplexidade ao ouvir, em algum ponto obscuro da segunda metade dos anos 1980, meu colega de colégio Benedetti contar uma lorota parecida. Naquele tempo, no fim das aulas, durante a manhã, era comum subirmos a pé a Mascarenhas de Morais ou a General Marques. Ele ia para casa, eu ia até a esquina da Francisco Leivas, várias quadras adiante, onde havia uma parada do ônibus Independência na frente do Armazém Padre Reus. Benedetti falava muito, eu falava bem menos (quem me conheça hoje talvez não acredite, mas às vezes me parece que minha adolescência foi um longo silêncio entrecortado aqui e ali por algumas palavras fora de lugar). Ele contava muitas histórias que, sendo gentil, torciam o limite da realidade, entre elas esse “causo” de que certa noite num distrito de São Gabriel o pai dele havia matado a tiros um lobisomem que andava pelos campos (a descrição do “lobisomem” como um “cachorro descomunal, do tamanho de um terneiro”, que usei no livro, foram palavras textuais de Benedetti, das quais eu ainda me lembrava mais de 20 anos depois).
No ano em que começou a pandemia, ali por junho, talvez, mas não me lembro com absoluta certeza, Benedetti, de quem eu havia perdido o rastro e com quem não falava havia três décadas, morreu de Covid. Talvez tenha sido a primeira pessoa que eu conheci com algum grau de proximidade a ser vitimada pela doença – já nessa época rotulada de “gripezinha” pelo energúmeno-mor da nação, o ex-presidente hoje no banco dos réus.
Se foi mesmo em junho que o Benedetti morreu, ele foi um entre os mil mortos em média por dia no Brasil do período – e isso que as escolas nem estavam abertas e ainda vigoravam algumas restrições mais pesadas de fechamento de estabelecimentos favoráveis às aglomerações. Também começaram a aparecer nas mídias sociais manifestações de uma gente da pior espécie se dizendo já “cansada da pandemia”. Não por acaso, foi mais ou menos nessa época que grandes jornais, alguns muito próximos de minha experiência pessoal, começaram a reduzir sensivelmente a cobertura da pandemia por pressão da parte mais ativa de seus leitores reaças. Por ali também já se via no triste panorama das redes sociais outras manifestações de luto, uma multidão de vítimas tornada ainda mais numerosa pela negligência oficial criminosa que alimentava a negligência individual de outros casos não apenas no ano em que começou a pandemia, mas pelos anos seguintes. Uma amiga perdeu a família inteira em um mês. Um amigo perdeu o pai pouco tempo antes de o homem poder se vacinar – porque uma parente negacionista ignorou a pandemia e foi visitá-lo, levando o vírus na bagagem.
Homero tem um verso hiperbólico sobre a enormidade da chacina na Guerra de Troia no capítulo 16 da Ilíada: “Cada um daqueles homens, regentes dos Dânaos, matou um homem”. Às vezes leio isso e me lembro daquele ano em que a pandemia começou, em que parecia que cada um daqueles que se conhecia não matou, mas perdeu alguém.
* Fazem oficialmente cinco anos desde aquele 2020 em que a pandemia começou. Lembrar daquele período é um pouco como lembrar de uma febre antiga que nos fez alucinar por dias. Mas, assim como a Covid deixou algumas sequelas de longo prazo que até hoje intrigam pesquisadores, também lidamos ainda hoje com as consequências daquele período. Fosse Bolsonaro um simples oportunista político como qualquer outro, ele poderia ter feito o mínimo possível, ou até menos, enquanto fingia que acatava as normas do simples bom senso em nome da saúde da população e talvez no fim de tudo houvesse emergido até com uma página de estadista. Sabia-se já que o núcleo duro do movimento formado em torno de Bolsonaro tinha um pendor pelo autoritarismo disfarçado por um discurso de liberdade individual, mas com a pandemia viu-se que o pacote completo incluía ainda negacionismo científico, campanha antivax e algum terraplanismo de inspiração olavista.
Essa Covid longa da política chamada bolsonarismo ainda está por aí provocando sequelas inauditas. Para ficar em um exemplo, Mandetta, o que mais próximo Bolsonaro teve de um ministro da saúde de fato e o modelo do que o próprio presidente poderia ter sido se quisesse, perdeu a eleição seguinte para o parlamento, enquanto o dócil Pazuello, o especialista em logística que não conseguia despachar caixas de vacina, foi eleito. O discurso antivacina e negacionista representado pela visão de mundo da turma do ex-presidente réu também segue firme, mesmo entre, e isso foi algo que me espantou muito naquele ano em que a pandemia começou, profissionais de saúde.
Depois destes cinco anos que passaram com a indistinção de seis meses e a sensação remota de duas décadas, ainda pesamos o luto e remontamos nossos cacos. Não é fácil. Porque no ano em que a pandemia começou, algo terminou de se romper no terreno da simples desavença de ideias. Os do lado de lá acham que fomos sujeitos dóceis a um período de “restrição de liberdades” e de “vacinas experimentais”. Nós aqui não temos mais como olhar na cara de ninguém que defende um ponto de vista tão retrógrado e, do nosso ponto de vista, estúpido, no meio da maior crise sanitária em cem anos.
Eles acham que estão certos, claro. Nós também. Só aponto que eles estão chamando de truculência terem sido obrigados a fingir que se importam com os outros. Nós ainda estamos velando 700 mil mortos. Porque, por mais difusas que sejam as memórias daquele ano em que começou a pandemia, há coisas que são impossíveis de esquecer.
Todos os textos de Carlos André Moreira estão AQUI.
Foto da Capa: Marcelo Camargo / Agência Brasil