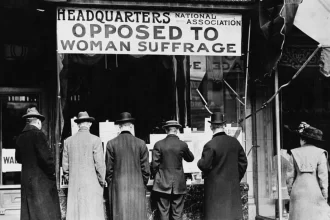Christopher Nolan, o cineasta favorito de muita gente que não gosta realmente de cinema, anunciou há algum tempo que vai adaptar a Odisseia, de Homero, para uma superprodução ao seu estilo. Divulgou esta semana, inclusive, uma foto do seu protagonista, Matt Damon. Nolan costuma ser incensado (principalmente por ele próprio, mas também por seus fãs mais ardorosos) por fazer um tipo de cinema cada vez mais raro, apoiado na “concretude” de efeitos práticos e em “nenhum CGI” – essa parte é claramente um exagero, mas sim, é padrão nos filmes dele que efeitos digitais compareçam para dar ajuste fino ao que é feito no set. Pena que, a julgar pelo que se pode ver nessa primeira foto oficial, Nolan talvez seja detalhista o bastante para construir um navio inteiro para Odisseu e sua tripulação, mas não é rigoroso o suficiente para se ater à pesquisa histórica mais básica. Lá está na cabeça de “Odisseu, semelhante aos deuses”, a porra de um elmo romano com penacho.
Esse é um equívoco que os filmes cometem há mais de cem anos – sim, mais de cem anos, não estou usando uma hipérbole conveniente. Elmos com penacho de vassoura na cabeça de soldados romanos estão presentes já na versão de 1913 de Quo Vadis – quando esse era um adorno reservado apenas aos oficiais superiores. Gregos, aliás, tinham variações de capacete diversas, a principal delas o chamado “elmo coríntio”, no qual o penacho não corre da nuca para a testa, e sim segue transversal de uma orelha a outra. Mas isso não vem tecnicamente ao caso porque ambos são exemplos de elmos popularizados muitos anos mais tarde – o elmo coríntio data ali pelo século VIII antes da Era Comum, enquanto a guerra de Troia situa-se no período pré-Homérico, pelo menos entre cinco e dez séculos antes.
A palavra de Homero
O que me deixa intrigado com essa imagem em particular é que, para alguém interessado, é muito fácil imaginar o que ia na cabeça de Odisseu. Mas para isso, seria necessário ler não apenas a Odisseia, mas sua “prequel”, como define a moda de hoje, a Ilíada. Lá, no canto X, descreve-se como Meríones, um dos guerreiros que lutavam ao lado dos gregos, presenteia Odisseu para uma incursão noturna de espionagem ao campo dos troianos. É um canto sobre o qual até hoje ainda se debatem historiadores e estudiosos de literatura, porque sua história é uma microaventura no drama maior do impasse entre os gregos provocado pela “Ira de Aquiles” – trata-se de uma história peculiar que não é depois retomada. Quase como se fosse um episódio fechado de uma série de TV com uma narrativa mais ampla. Muitos acreditam que talvez esse canto em particular tenha sido interpolado mais tarde, ou seja, o resquício de uma versão anterior e menos coesa do poema.
Seja como for, a questão é que o presente de Meríones a Odisseu, descrito nessa cena, é… um elmo. Um elmo de couro com forro interno (em algumas traduções, de feltro, em outras, de algodão) e adornado com presas de javali. É assim que o capacete é descrito, por exemplo, em uma das mais recentes traduções do poema épico, feita pelo Leonardo Antunes e publicada há um ou dois anos pela Editora Zouk com o título de A Ilíada de Homero em decassílabos duplos:
Meríones, por sua vez, passou
para Odisseu um arco com aljava
e também uma espada. Dos dois lados
da cabeça, ele então prendeu um elmo
feito de pele bovina, com muitas
tiras de couro enlaçadas por dentro,
esticadas até ficarem firmes.
Por fora, tinha duas presas brancas,
de um javali de dentes prateados,
postas de um lado e do outro do elmo
por um artífice de grande esmero,
que também o forrou com algodão.
Tal elmo outrora pertencera a Amíntor,
filho de Órmeno, rei de Eleona,
até que Autólico o roubou, no dia
em que invadiu seu palácio seguro.
Indo a Escândia, ele mesmo o entregou
depois a Anfidamante de Citera.
Anfidamente então o deu a Molo
como um presente de hospitalidade.
Por sua vez, ele o deu a Meríones,
seu próprio filho, para que o vestisse.
Agora, preso pelas duas tiras,
protegia a cabeça de Odisseu.
Ainda que se achasse estranho para o cinema esse tipo de elmo, cuja própria existência durante muitos séculos foi questionada antes de achados arqueológicos a confirmarem, havia outros modelos mais modestos – aliás, “modéstia” me parece sempre ser um dos grandes problemas que Hollywood não quer encarar quando decide adaptar a Ilíada. E por sua própria culpa, já que a maioria dos filmes que trata desse tema prefere tomar duas decisões que se anulam: ser “realista na escala humana”, investindo na recriação do mundo antigo, e abolindo da história praticamente sua outra metade: a interferência e o drama paralelo dos deuses na narrativa.
Se fôssemos nos guiar pela arqueologia, a “gloriosa Ílium” e o conjunto de reinos gregos daquela época são visualmente menos impressionantes do que sua contraparte literária. Reinos da Era do Bronze, em que mesmo o que se considerava luxo suntuoso seria visto como um exemplo de austeridade nas decadentes sociedades posteriores do Império Romano. E talvez por isso haja essa mania irritante de os filmes se socorrerem de uma mixórdia de elementos romanos e gregos indiscriminados para conseguir na imagem o efeito que Homero consegue sozinho com sua palavra.
As dificuldades da adaptação
A forma como Homero narrou a guerra de Troia é grandiosa, gloriosa, os próprios deuses passeiam entre os seus filhos e apadrinhados no campo de batalha, interferindo quando querem garantir a vitória de seus protegidos em duelos com outros combatentes. A própria guerra só existe porque episódios da mitologia estão entranhados no emaranhado de suas motivações. Se você opta, como Wolfgang Peterson no Troia de 2004 ou John Kent Harrison no Helena de Troia, de 2003, por uma história totalmente sem os deuses, você já tem de fazer vários malabarismos para adaptar os eventos e fazê-los acontecer na sucessão apresentada no livro. E, por outro lado, esses filmes também não investem numa reconstrução de fato histórica, assim você tem produções mutiladas nas quais os elementos realmente fantásticos estão ausentes, enquanto a recriação histórica fantasiosa torna armas, armaduras e cidades um grande desfile do Joãozinho Trinta.
Quando eu era mais jovem e menos ingênuo, confesso que cheguei a nutrir alguma esperança de que um filme capturasse a grandiosidade de Homero na tela. A vez em que quase fui convencido de que isso aconteceria foi no lançamento do filme estrelado por Brad Pitt e dirigido pelo Wolfgang Petersen – um alemão, o que considerei bastante auspicioso, uma vez que a obsessão da cultura alemã pelo conto de Troia é tradicional e bem documentada, tendo sido um arqueólogo alemão, Heinrich Schliemann, quem descobriu um dos pontos mais famosos a ser identificado como a Troia de Homero, na moderna Hisarlik, na Turquia. Mas meu otimismo durou até o momento em que vi o filme.
Apesar desse meu comentário algo rigoroso, isso não significa que o filme seja necessariamente ruim, é só uma produção de aventura medíocre que não está à altura de sua fonte. Já o revi pelo menos umas duas vezes, quando tropecei nele zapeando pelos canais, na época pré-streaming em que ainda fazíamos isso. Minha apreciação final é de que é um desolador desperdício de recursos e talento, porque estavam ali, ao menos no papel, as condições de ser um grande filme.
No meio da confusão federal que Petersen armou com a cronologia e até com coisas básicas como a continuidade, há momentos em que Troia consegue captar com dignidade as imagens vívidas com que a Ilíada descreve a história: a chegada dos navios gregos à praia; a apreensão com que os troianos acompanham a primeira batalha do alto das muralhas, a luta entre Aquiles e Heitor; a cena em que o recentemente falecido Peter O’Toole, no papel de Príamo, ajoelha-se diante do galã com expressividade de um totem de madeira Brad Pitt para suplicar pela liberação do corpo de seu filho. Mas é isso, o desenho de produção é realmente muito bom, e nada mais.
Parte do problema é de direção, parte é de roteiro. Na mixórdia temporal que é esse filme, parece que a guerra durou três semanas. Nem o próprio Homero incorreu no erro de contar toda a história de uma só vez, mas de se concentrar num episódio do ano final da guerra, a mênin, a cólera de Aquiles que o faz retirar seu exército da coalizão grega, enfraquecendo as fileiras de seus compatriotas por uma desavença com Agamêmnon, o grande rei. Isso está no filme. Também está o rapto de Helena, a preparação para a guerra, o embarque, o desembarque, conselhos de guerra dos dois lados, o cavalo, porque aparentemente não dá para ter um filme de Tróia sem o maldito cavalo, etc… E nada ali sequer tenta insinuar a longa passagem de tempo entre o desembarque grego e o fim do cerco, dez anos, sim, dez anos depois. Nesse sentido, uma série posterior, Troia: a queda de uma cidade, conseguiu transmitir com mais eficiência essa noção de escala e tempo, apesar de menos caprichada em termos de produção e seleção de elenco.
Guerra: contra e a favor
Penso que parte da dificuldade de transmitir a Ilíada para o cinema é que me parece haver mais grandes filmes de guerra contra a guerra do que a favor. Johnny vai à Guerra, Nascido para Matar, Apocalipse Now, O Resgate do Soldado Ryan são obras nas quais, mesmo quando necessária, a guerra é retratada como um pesadelo de consequências atrozes. A Ilíada, embora não se esquive da violência dos combates e também descreva a sua ferocidade como uma artimanha dos deuses na qual quem sofre são os mortais, não é um poema antigerra. Talvez seja seu mais bem-acabado louvor.
Homero, claro, é o grande responsável. A prosa dos seus poemas é rica, de um vocabulário suntuoso e com um complexo sistema de símiles e comparações que ancora a ação no mundo natural e no imaginário do mundo grego do período. E ela pode ser assim porque Homero, ao contrário desses filmes que o adaptam mal, abraça a fantasia mitológica e a faz essencial para sua história. Nada de “Helena foi o pretexto mitológico a posteriori para justificar conflitos regionais geopolíticos” ou “a guerra de Troia não teria sido motivada só por uma mulher, isso é absurdo, ela na verdade fez parte de uma longa e ancestral cadeia de rivalidades entre Europa e Ásia” (que é, mais ou menos e bem toscamente resumido, o argumento central da História de Heródoto).
Para Homero, a guerra foi parte de uma cadeia de eventos nos quais o sagrado e o mundano são a mesma coisa. Tanto que os próprios guerreiros retratados lutando até a morte são descritos eles próprios como ancestrais mitológicos muito mais capazes, nobres, fortes e poderosos do que os “homens contemporâneos” do poeta. São heróis e semideuses, e ainda assim, meros fantoches das maquinações paralelas dos deuses, que invisíveis quebram espadas, arrebentam fivelas de escudos e elmos, aparam golpes de lança e até mesmo teleportam seus escolhidos para longe do perigo (como o faz Afrodite na célebre luta mano a mano entre Menelau, o corno mais famoso da história, e Alexandre, o playboy-magia oriental que pode ser muito bom em passar o rodo na população feminina, mas que quase morre no combate direto com um Menelau sedento por vingança).
Nolan e o realismo
Fico na dúvida sobre como essa narrativa grega tão prenhe de maravilhas vai ficar quando passar pelo filtro de Nolan, um diretor que só consegue trabalhar com a fantasia rebaixando-a à realidade (como fez na trilogia Batman, por exemplo), aprisionando-a numa estrutura matemática e lógica rígida (como em Inception) ou que só concebe o fantástico como um subtexto no qual ele claramente não está interessado (como em O Grande Truque, um filme extremamente realista ao falar de mágicos e elipticamente mágico ao falar de ciência). Algum fanboy de Nolan neste exato momento está pensando em apontar que estou trocando as bolas, já que ele não dirigirá uma Ilíada, e sim uma Odisseia, a narrativa seguinte, da tumultuada volta para casa do herói após a guerra. Estou ciente desse fato, e ele só valida ainda mais o meu ponto.
A Ilíada é um canto de guerra – enquanto a Odisseia é a aventura maravilhosa de um único herói, repleta de ainda mais episódios mágicos e mitológicos do que o primeiro poema. Na Ilíada, os deuses são o elemento fantástico e não muito mais. Na Odisseia, os obstáculos ao retorno de Odisseu incluem ciclopes, um abismo e um redemoinho mastigadores de homens e navios, uma feiticeira com o poder da metamorfose, povos selvagens ameaçadores. Não estou dizendo que não se possa contar essa história de um modo realista no qual todos os elementos maravilhosos sejam substituídos ou se revelem algum delírio que confundiu um fenômeno realista ou natural com algo místico de explicação sobrenatural. Estou dizendo: para que se dar a esse trabalho? Até porque já foi lançado no próprio ano passado um filme que é basicamente isso, feito com um orçamento que provavelmente somará um vigésimo do de uma produção de Nolan: O Retorno, de Uberto Pasolini, com Ralph Fiennes como Odisseu e Juliette Binoche como sua esposa à espera, Penélope.
O filme de Pasolini é um drama contido e focado principalmente na última parte do poema, a chegada, afinal, de Ulisses a Ítaca, 20 anos depois da partida. Em vez das maravilhas de seres fantásticos, há aqui a melancolia muito humana de um homem ao ver a ruína do que lhe pertenceu, enquanto os pretendentes de sua mulher tomam sua casa como deles e ameaçam matar seu filho. A tensão do que acontecerá. É um filme que decide ver a Odisseia por olhos incomodamente modernos, também, ao fazer Penélope, feroz e ardilosa, ela própria original, horrorizar-se com o banho de sangue que seu marido retornado provoca ao se vingar das visitas abusadas. Não é um mau filme, e claramente sua austeridade narrativa tem também a ver com a austeridade financeira de seu orçamento restrito. Mas já aponta para o fato de que, amputada da parte mais fantástica, esta narrativa se torna um drama íntimo de menor escala – não que não se possa contar a Odisseia assim, mas não é mais ou menos essa a fórmula de praticamente qualquer drama feito nos últimos cem anos?
Meu ponto aqui nem é se os deuses existiam ou não – eu sei que já escrevi mais de uma vez que sou ateu. Não acho que existiram deuses gregos no mundo Antigo mais do que acho que existe um deus único hoje. Mas sei que eles existem nos livros, e não só existem como sua supressão – e a das maravilhas que também habitam o mundo em consequência dessa existência – sempre transforma os maiores poemas épicos da literatura ocidental. Minha questão é que, se o Nolan que todos conhecemos pretende amarrar a fantasia grega às suas concepções ultrarrealistas, já saímos perdendo de cara. Já se Nolan, para variar, decidir descobrir um modo novo de narrar essa história, adaptando seu estilo ao da trama em vez de fazê-la se encaixar a marteladas na sua visão, talvez, aí sim, talvez, tenhamos algo a ganhar com isso.
Todos os textos de Carlos André Moreira estão AQUI.
Foto da Capa: Divulgação