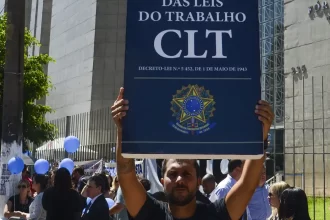Christopher Nolan estampa o ânimo do nosso tempo na cena final de seu filme Oppenheimer. A expressão desolada em close no rosto do “pai da bomba atômica” (Cillian Murphy em interpretação épica – foto da capa) ao responder que, sim, que talvez os cientistas tivessem criado uma bomba que extinguirá o mundo. Passadas oito décadas, novas variantes disputam com a bomba, pois a questão não é exatamente a de potência devastadora de uma arma nuclear, mas a das decisões humanas.
Oppenheimer até acreditava – ou queria muito acreditar – que a bomba atômica tinha potencial para acabar com as guerras, que sua criação deveria funcionar como um alerta e uma baliza de negociação para a governança mundial. Mas no calor de conquistar a liderança do Projeto Manhattan, ele se deixou seduzir pela ideia de vencer os limites da ciência da época e foi desprezando os riscos. Na aliança com o General Groves (Matt Damon no filme), – atendeu ao seu pedido de construção de uma cidade secreta, Los Alamos – chegou a vestir um uniforme militar. Oppenheimer levou centenas de cientistas e técnicos com suas famílias para Los Alamos, que não era apenas um local onde os nativo-americanos iam para enterrar seus mortos, como descreveu na defesa do local para o seu laboratório. A região já era parcialmente povoada por imigrantes hispânicos, agricultores, que, inclusive, foram requisitados na construção da cidade e mantidos ignorantes quanto ao propósito do Projeto Manhattan – famílias que passaram a sofrer de doenças causadas pela radiação do teste final com a bomba por gerações, e não contam com apoio ou reconhecimento oficial do governo estadunidense.
Em cinco anos de trabalhos em Los Alamos, 1940 a 1945, houve inúmeras ocasiões para frear – ou mesmo abortar – o processo. Nem mesmo o risco de uma extinção da vida no planeta os fez hesitar em testar a explosão no deserto do Novo México às carreiras, antes que fosse tarde demais para usar a bomba. A Alemanha já estava fora da guerra – a Segunda Guerra Mundial encerrada na Europa – e era preciso correr para jogá-la, ao menos, no Japão. A justificativa era que o país se negava à rendição, mas colaborava também um desejo de retaliação ao ataque japonês na base naval de Pearl Habor, quatro anos antes. A decisão não foi de Oppenheimer, foi do presidente dos EUA, Harry Truman (Gary Oldman). Mas ele participou, inclusive, da decisão por Hiroshima e Nagasaki como destinos.
Quando caiu em si, o horror estava feito e ele sentiu o sangue nas mãos: “Eu me tornei a Morte, o destruidor de mundos.” Começa, então, o périplo de Oppenheimer em defesa do abandono da bomba atômica, que tem o ápice no encontro com o presidente Truman na Casa Branca, que desdenha e, pelas costas, ainda o classifica como um “bebê chorão”. Seu périplo inútil lhe rendeu, isso sim, um julgamento informal, a portas fechadas, orquestrado pela Comissão de Energia Nuclear, encabeçada pelo almirante Lewis Strauss (Robert Downey Jr.), que usou de manobras ideológicas – forçando um vínculo seu com o comunismo – e morais para afastá-lo do programa nuclear dos EUA e destruir sua reputação.
Mesmo aliado da União Soviética durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos manteve segredo sobre o desenvolvimento da bomba atômica, o que originou a espionagem por cientistas ligados ao Projeto Manhattan, especialmente Klaus Fuchs (em quem o filme se concentra, interpretado por Christopher Denham), Theodore Hall, David Greenglass e Harry Gold. Nenhum deles teve exatamente uma motivação ideológica, passaram informações aos soviéticos mais por receio de os EUA manter um monopólio nuclear. De qualquer forma, a corrida armamentista nuclear foi deflagrada e culminou na Guerra Fria, o longo e intenso conflito político, militar, tecnológico, econômico, social e ideológico entre as duas poderosas nações.
Hoje, com a guerra de Rússia e Ucrânia, assistimos novamente uma “Guerra Fria” de EUA e Rússia, pois os norte-americanos sustentam a força bélica da Ucrânia – o governo de Joe Biden já forneceu mais de 40 bilhões de dólares a Kiev desde o início da invasão russa – com justificativas que mascaram uma reedição da disputa pelo poder planetário. E assim temos, agora, os dois países com suas armas atômicas letais engatilhadas, só dependendo de uma decisão irresponsável, insana – como costumam ser as decisões de guerra – para deflagrar um desastre de proporções jamais vistas ou mesmo uma extinção em massa da humanidade.
Mas mesmo que bombas atômicas não sejam detonadas, já temos variantes suficientemente catastróficas no radar, com a urgência climática e o desafio da Inteligência Artificial. Inúmeros desdobramentos do aquecimento global já podem ser medidos, como os verões escaldantes especialmente na Europa, EUA e China e sua onda de mortes, o iminente colapso das correntes oceânicas que ajustam as temperaturas dos mares do planeta, o que afeta também a distribuição de nutrientes e sedimentos que sustentam toda a biodiversidade marítima, o avanço do plástico no ecossistema, inclusive se aglomerando em formações “rochosas” nas costas marítimas, etc., etc. E mais as epidemias que podem resultar em uma nova pandemia, com diversas situações de vírus, desde os transmitidos por animais, os inativos que estão revivendo com o derretimento de geleiras ou os que estão voltando devido à baixa vacinação até os supostamente criados em laboratórios. O avanço das Inteligências Artificiais não fica atrás, pois tem como potencial um agravamento da desigualdade social e econômica, uma vez que as forças do mercado não tendem a desenvolver naturalmente produtos e serviços de IA que absorvam os mais pobres, tanto ao nível de indivíduos como de nações, sendo necessária uma regulação de governança mundial. Se assim não for, toda a ordem de conflitos explodirá, afinal, mesmo em menor grandeza, não são mais só EUA e Rússia que dispõem de armas nucleares, e também de outras ferramentas de destruição em massa. Voltamos, portanto, à questão das decisões humanas. É disso que se trata, sempre foi. Não é à toa que Christopher Nolan encerra seu filme com o rosto transtornado de Oppenheimer.
Mas não quero encerrar esse texto sem ponderar que temos o poder de frear esse processo. Levamos vantagem em relação a Oppenheimer, pois temos um nível de informação hoje que era inacessível naquela época e permitia desmandos ao poder dominante sem enfrentamentos diretos e imediatos. Com a internet estamos trocando informação o tempo todo e podemos nos organizar e reagir, isso é poder. Mas esse poder tem que ser o do amor. Essa é a nossa quinta revolução – depois do fogo, da agricultura, da indústria e do sistema de códigos –, a revolução do Novo Amor, a mais séria e definitiva, pois dela depende, inclusive, nossa sobrevivência enquanto espécie ou de nossa condição humana.
 *Vera Moreira foi repórter e editora no Diário do Sul e Zero Hora, em Porto Alegre, e Estadão, Jornal da Tarde e Dinheiro Vivo (Jornal GGN hoje), em São Paulo. Foi agente literária de Sergio Faraco, com quem organizou o livro Decálogo do perfeito contista. Autora de Mulheres, Cérebro, Coração.
*Vera Moreira foi repórter e editora no Diário do Sul e Zero Hora, em Porto Alegre, e Estadão, Jornal da Tarde e Dinheiro Vivo (Jornal GGN hoje), em São Paulo. Foi agente literária de Sergio Faraco, com quem organizou o livro Decálogo do perfeito contista. Autora de Mulheres, Cérebro, Coração.