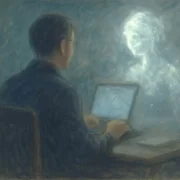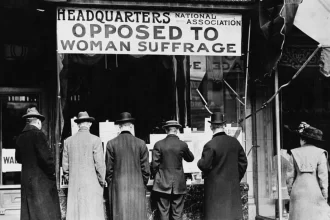Tive um pesadelo. O que é surpreendente, porque raramente lembro de meus próprios sonhos. Regra geral, acredito na proposição de Gilles Deleuze e Félix Guattari em Anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia (Assírio e Alvin, 1972), de que o capitalismo produz inclusive o que sonhamos. Isso tem sentido, porque muitas vezes já sonhei com o trabalho, o que acontece com muitas pessoas. E lá estava eu, no meu pesadelo, mesmo aposentado, de volta à Câmara Municipal de Porto Alegre, onde trabalhei por 36 anos. No meu pesadelo, eu coordenava, como na ativa, a equipe de estagiários da Seção de Memorial em que trabalhei, e estava coordenando a limpeza, higienização e catalogação do que fosse encontrado em um caixão de defunto que estava localizado no corredor térreo, perto do Laboratório de Restauro. Pode ser pesadelo, mas tem de ser descrito bem certinho.
A certa altura do caixão, uma mão e uma cabeça saem e assustam a mim e minha equipe. Quem conhece a Câmara Municipal sabe que o prédio projetado em formato de quarteirão pelo arquiteto Claudio Araújo ainda nos anos 70, tem características que lembram o filme O Iluminado (The Shining, no original) de Stanley Kubrick. Baseado no livro de Stephen King e lançado em 1980, o filme tem como destaque a atuação de Jack Nicholson e aqueles corredores da câmara sempre me lembravam os corredores do enorme Hotel Overlook do filme. A cena de Danny, o iluminado, correndo de bicicleta nos corredores do hotel poderia ser feita nos corredores da Câmara Municipal sem perda alguma de efeito dramático. Trabalhei só neste prédio por mais de 20 anos e era ali que se passava o meu pesadelo.
O pesadelo nos dá susto
O que me provocou um susto e motivo do meu despertar foi o movimento de saída do caixão de defunto de uma mão e da cabeleira de alguém. A cabeleira me lembrava a de Samara, a figura icônica do terror moderno que apareceu noutro filme de terror, O Chamado (The Ring), e o que eu temia em meu pesadelo era que aquela menina que também saía do caixão fosse também algum espírito vingativo que, como nas estórias de fantasmas – que o vereador Cleom Guatimozin costumava contar – que habitavam os corredores da câmara. Mas, além da cena da cabeleira e da mão, nada lembro de meu fantasma em meu pesadelo. Ele não manipula nada ao meu redor, como Samara manipula imagens e sons, como faz com a fita de vídeo. Mas a sensação de medo de ver um caixão de defunto ser aberto é a mesma de como se recebesse a ligação telefônica que anuncia a morte, como no filme. Nada ligava o meu personagem onírico a Samara do filme, além do cabelo longo e escuro cobrindo o rosto, mas o movimento cumpre a mesma função de produzir medo e suspense. Mas por que cargas d’água, eu, um aposentado, sonharia um pesadelo desses?
A verdade é que todo mundo tem experiências de pesadelos. Eles têm relação com nossas experiências e conflitos pessoais, mas também com as preocupações vividas durante o dia e o mundo que nos cerca e afeta. Ana Lopes, em ‘Os pesadelos e a sua relação com o trauma, a psicopatologia e a personalidade’ (disponível aqui), afirma que os sonhos são parte significativa da experiência humana e a cultura, a arte e outras áreas de saber, como a filosofia, se debruçaram sobre eles. Com a fundação da psicanálise no século XIX, e depois, a psicologia e as neurociências, os sonhos se transformaram num objeto de pesquisa. Lopes afirma que “a psicanálise é o ramo de conhecimento acerca da psique humana que mais procurou compreender os significados atribuíveis aos sonhos e que tem vindo continuamente a conceder-lhes uma importância considerável na clínica.” Contudo, ela afirma que alguns autores falam de uma recente mudança dos sonhos para a periferia dos estudos da prática clínica, apontando como “um dos motivos o contexto político e econômico no qual a psicologia se desenvolveu, nomeadamente as tentativas da psicologia se diferenciar da psicanálise, identificando-se com o behaviorismo e as ciências naturais, que acentuam a crença nos sonhos como um fenômeno aleatório, sem significado e importância”.
A pesquisa sobre pesadelos
Se os sonhos estão fora de moda na literatura especializada, pior lugar ainda há para os pesadelos. Encontrei poucos estudos sobre eles. Segundo Lopes, na terapia, entretanto, os pacientes continuam a trazer não apenas seus sonhos, mas principalmente seus pesadelos para a análise. “Diversos autores continuam a defender que [os pesadelos] estão intrinsecamente ligados ao seu sonhador, a quem ele é, à sua personalidade, perturbações psicológicas, mecanismos de defesa, às suas vivências presentes e aos traumas que o marcaram”. É um campo problemático e muitos psicólogos sentem falta de confiança para trabalhar com esse material, ainda que a tarefa dos terapeutas seja, justamente, auxiliar o paciente a voltar a sonhar com o que foi interrompido para que ele possa encontrar uma saída.
Elie Cheniaux, em “Os sonhos: integrando as visões psicanalítica e neurocientífica” (disponível aqui), retoma o argumento do neurocientista e psicanalista Mauro Mancia para realizar uma revisão de literatura sobre as diferenças entre as abordagens neurocientífica e psicanalítica dos sonhos. Ele diz que os primeiros se dedicam aos estudos das funções cerebrais envolvidas na produção do sonho, e os segundos, ao seu significado. São modelos distintos de análise, mas complementares. As fontes do estudo de Cheniaux são Sigmund Freud, criador da Psicanálise, James Allan Hobson, neurocientista crítico da teoria freudiana, e Mark Solms, pesquisador da neuropsicanálise.
O autor cita a primeira obra psicanalítica de Freud, “A Interpretação dos Sonhos”, de 1900, como ponto de partida do tema, pois ela trata dele em seu capítulo VII da teoria do aparelho psíquico, “a via régia de acesso ao conhecimento do inconsciente na vida mental”. Para ele, o sonho constitui “uma realização (disfarçada) de um desejo (reprimido)” que possui dois conteúdos: o manifesto, a experiência consciente durante o sono, e o latente, a experiência inconsciente. Esta é composta por 3 elementos: “as impressões sensoriais noturnas (por exemplo, a sensação de sede durante o sono), os restos diurnos (registros dos acontecimentos da véspera) e as pulsões do id (relacionadas a fantasias de natureza sexual ou agressiva). Esses elementos do sonho latente tendem a fazer o indivíduo despertar”.
O conteúdo dos sonhos
O conteúdo manifesto do sonho, isto é, aquilo que você lembra ao despertar, é uma gratificação parcial das pulsões que permite dormir, produto da negociação entre o id e o ego. Ele é aparentemente incompreensível, nos termos de Freud, porque é uma visão distorcida do conteúdo latente, produto de regressão do funcionamento do ego que “permite que prevaleça o processo primário de pensamento”. Daí o predomínio de imagens visuais e verbais, fusão de representações, deslocamentos. “Além disso, entre o inconsciente e o consciente, existiria uma instância censora, que deliberadamente disfarçaria o conteúdo do sonho, para que o sonhador não reconhecesse sua origem pulsional, proibida”, diz Cheniaux.
O autor aponta algumas contestações à teoria freudiana dos sonhos, que compararam conteúdos manifestos com associações livres e que indicariam o conteúdo latente do sonho, não encontrando grandes diferenças. “Vários estudos empíricos encontraram uma correlação significativa entre a atividade mental durante a vigília e o conteúdo manifesto dos sonhos (…) os problemas sonhados eram basicamente os mesmos pelos quais os indivíduos estavam passando em suas vidas diurnas. Outros ensaios clínicos demonstraram que estímulos apresentados anteriormente ao sono – como filmes, fotografias ou jogos de palavras – reaparecem claramente nos sonhos.” Nesta crítica, nossos sonhos nos falam não de problemas internos à consciência, mas externos, do mundo ao redor.
Por um lado, lendo a revisão de literatura, o debate da área parece não ter fim numa sucessão de conclusões e exceções. Por outro lado, algumas ideias se destacam. Cheniaux afirma que alguns autores não acreditam que seja possível recuperar o conteúdo latente do sonho na sessão analítica. Para eles, a associação livre ocasiona a produção de um material novo, criado a partir da relação paciente-analista. Afirmam que isso é muito bizarro ou confuso porque o sonho não resulta de repressão: ele é feito de elementos originalmente extralinguísticos, que não podem ser expressos em palavras. Psicanalistas parecem ainda sonhar em compreender o… sonho!
Desbravando os sonhos
Os sonhos são, por isso, uma realidade instigadora. Que refletem nossos desejos, mas também as defesas de nossa mente. Cheniaux cita a ideia de que, para alguns autores, os sonhos são reflexo da atividade mental como um todo, o que significa que, além da função simbólica, ainda cumprem função de descarga de energia psíquica, solução de problemas intelectuais ou emocionais, criatividade, adaptação, aprendizagem, entre outras.
O sonho, apesar das críticas, ainda exerce fascinação. A descoberta, na década de 50, do sono REM por Nathaniel Kleitman introduziu o conceito de sono paradoxal, aquele que corresponde a cerca de 20% do tempo do sono do adulto, caracterizado por movimentos oculares rápidos (rapid eye movements, daí a sigla). Quando desperta nesse momento, a pessoa lembra-se do sonho. Seu traço encefalográfico é semelhante ao da vigília, ao contrário do sono profundo, não-rem (NREM), conhecido por ondas lentas (slow wave sleep). O primeiro é muito comum, e quando uma pessoa é despertada nessa fase do sono, ela refere-se a ter estado sonhando, ainda que possam ocorrer sonhos nas duas formas de sono. A diferença, dizem os pesquisadores, é que “comparados com os sonhos da fase NREM, os da fase REM são mais vívidos e mais bizarros, apresentam uma maior participação do sonhador e uma maior estruturação espacial, são mais facilmente lembrados e relatados com um número maior de palavras.”
Já os sonhos do sono NREM são mais conceituais do que plásticos, compostos por fragmentos da realidade não organizados e não narráveis, raramente são lembrados e apresentam uma participação mais passiva do sonhador. Para grande parte dos neurocientistas, os sonhos não têm qualquer função, são um efeito colateral do processo de consolidação da memória, ainda que, mesmo esta hipótese, não seja consenso entre eles. Afinal, se o sono é um estado amnéstico, por que teria papel de consolidar a memória? Outros afirmam que sonhamos não com as memórias que estão sendo consolidadas, mas com aquelas que estão sendo apagadas. Para eles, o sono REM é necessário para a eliminação de informações erradas ou inúteis armazenadas no cérebro. Não gosto de pensar que minha mente não passa de um grande HD à espera de que eu passe um CCleaner.
Outros ainda acreditam que o sonho seria um reflexo de um processo de aprendizagem reversa responsável pelo enfraquecimento de determinadas sinapses, o que é coerente “com o fato de os sonhos retratarem eventos bizarros ou irreais, os quais precisariam ser eliminados da memória.” Outra teoria diz que estímulos produzidos na ponte durante o sono, a partir dos traços da memória visual armazenada, produzem as imagens do sono. Ponte vem do latim pons, que significa literalmente ponte, a porção do rombencéfalo que conecta o córtex cerebral com a medula oblonga e serve como um centro de comunicação e coordenação entre os dois hemisférios do cérebro. Diz Cheniaux que “como essa ativação cortical se dá de forma aleatória, são formadas imagens caóticas, as quais, num segundo momento, sofrem um processo de síntese, construindo, assim, uma narrativa sequencial. Portanto, de acordo com essa teoria, os sonhos nascem no tronco cerebral e sem qualquer significado; eles não estão disfarçando nada, pelo contrário, expressam de forma transparente a atividade cerebral”. Elas não são as únicas teorias do sono, mas mostram o peso do papel biológico em sua produção. Não concordo com essa teoria: acredito que, ao longo de minha vida, os sonhos que tive tiveram significado. De alguma forma, sempre conseguia relacioná-los com alguma coisa, e talvez seja esse seu objetivo, fazer-nos pensar.
A visão de Freud
Depois da teoria neurobiológica, Cheniaux trata da teoria psicanalítica de Freud, como a descrita em “A Interpretação dos sonhos”. Ele afirma que, inclusive, pesadelos também são expressões do desejo, já que o conteúdo latente, um pouco deformado, chega à consciência para produzir ansiedade para despertar o indivíduo. As manifestações do ego e desejos do superego se expressam por meio de sonhos e pesadelos. Em ”Além do Princípio do Prazer”, de 1920, Freud aponta uma exceção à sua teoria ao afirmar que os sonhos repetitivos que sucedem eventos traumáticos e os que invocam traumas de infância não são realização de desejos. “Tais sonhos, de acordo com ele, obedecem à compulsão à repetição, que seria algo mais primitivo do que o princípio do prazer (e independente deste), e têm como função a sujeição ou dominação das excitações relacionadas à recordação do trauma.” Seus críticos afirmam que, ao contrário, os pesadelos podem variar mesmo estando ligados às experiências traumáticas, já que querem evocar a emoção vivenciada. Mas, na era farmacopornográfica de que fala Paul Preciado, ainda faltam pesquisas que mostrem como antipsicóticos afetam os sonhos.
Já Lopes lembra a definição de pesadelo do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) como sonhos assustadores que provocam medo e repulsão, que se alimentam das emoções negativas intensas e que provocam o despertar. Pesadelos seriam mais naturais na infância do que na idade adulta, uma vez que, na forma como ela vive o mundo, os adultos se apresentam como mais poderosos e procuram definir o que é seguro e o que é inseguro ou imprevisível, sugerindo-lhes uma sensação de vulnerabilidade. “No entanto, é comum também confundir-se pesadelos na infância com terrores noturnos, estes que, uma vez que não produzem lembranças da experiência, nem imagens com qualidade narrativa elaborada, o que o psicanalista inglês Wilfred Bion (1897-1979) denomina de sonhos que não são sonhos, uma vez que não podem ser ligados ao processo de sonhar, pensar e armazenar na memória. O despertar do pesadelo é essa incapacidade de simbolização, de integrar afetos que se tornam tão intensos, seja influenciado por estímulos acumulados durante o dia e mantidos à noite, ou produto da regulação emocional, pela extinção do medo de eventos emocionais estressantes que o despertar provoca”. O pesadelo é um objeto de trabalho clínico, é a busca de solução de conflitos inconscientes.
Pesadelo e sonho traumático
Cheniaux afirma que os pesadelos são associados na sua origem a traumas que geram angústia. Traumas são eventos relativos, o que é traumático para um pode não ser para outro. Há diferentes sonhos traumáticos que podem ou não evocar experiências perturbadoras, e emoções experimentadas que buscam materiais diversos na memória associados a elas, fazendo conexões com outras partes da vida. Mas há bons pesadelos, os pesadelos não patológicos que têm a função de promover a adaptação emocional do trauma à memória e que fazem parte do processo natural da sua resolução na mente.
Quando os sonhos finalmente perdem a emoção dominante e se tornam menos ameaçadores, se diz que o evento traumático foi enfim integrado à mente. Mas se falham nesse processo, entramos no campo da patologia e os sonhos se tornam incapazes de promover uma resolução. Se a atividade onírica é reprimida, a memória traumática não pode ser integrada e simbolizada, ficando desconexa da autobiografia narrativa e gerando angústia e sintomatologia. A compulsão à repetição é a tentativa da mente de dominar a experiência aterrorizante, diz Freud, pois a falha da integração é uma experiência de desumanização, a morte psíquica.
A repetição é esse esforço de encontrar símbolos para assimilar o que foi uma falha do trabalho psicológico inconsciente que tende a defender a mente do caos destas experiências traumatizantes. Nesse sentido, as tentativas falhas de recuperar a sensação de segurança e proteção emergem na clínica como perturbações psicológicas, como a depressão. A cura é, nesse sentido, a restauração da função simbólica pela cura dos sintomas físicos e atribuição de significado, reconhecimento do trauma para integrá-lo à vida do sujeito. Pesadelos assim estão relacionados a quadros depressivos, personalidade borderline, psicose e risco de suicídio na sintomatologia psiquiátrica. Eles não causam diretamente danos, devendo-se avaliar sua frequência, intensidade e angústia que produzem no indivíduo, mas o autor não está bem certo disso porque as pesquisas têm sido contraditórias sobre sua relação psicopatológica.
O meu problema está no streaming
Eu leio esses estudos e me dou conta de que meu pesadelo pode ser apenas devido ao fato de que assisti, na noite anterior, ao último episódio de A mulher dos mortos, da Netflix. Ali, na série germano-austríaca, Brünhilde Blum (Anna Maria Mühe) centraliza a história movida por instinto materno e o medo da perda. Na crítica de Giselle Rosa (disponível aqui), “a descoberta de restos humanos em um caixão exumado reacende as suspeitas da polícia sobre sua ligação com assassinatos do passado. Ao mesmo tempo, sua filha Nela é sequestrada por um grupo ligado a um vídeo comprometedor que Blum, supostamente, possui.” Taí, a série é cheia de caixões de defunto. Na cena em que prepara os mortos em sua funerária, ela conversa com eles fantasiosamente, o que é assustador. Lembro agora que, na manhã do mesmo dia, eu havia ido à Feira do Peixe, em Porto Alegre. No retorno, passo pela Loureiro da Silva, onde se localiza e eu vejo à distância o prédio da Câmara de Vereadores.
Entendo que, para o meu inconsciente, estão dados os elementos do meu pesadelo. Talvez um psicanalista de outra interpretação, presumo. Como aponta Franco Bifo Berardi em O Terceiro Inconsciente: a psicoesfera na era viral (Glac edições, 2024), o terceiro inconsciente é justamente esse, o da dimensão social da mente. É que agora, Consciente, Inconsciente e Inconsciente Coletivo se tornam dimensões vitais para o capitalismo. Se, na linha de Deleuze Guattari, Berardi defende que o inconsciente não é um depósito para conteúdos denegados da experiência, é uma força de produção, “o inconsciente não é um teatro, mas uma fábrica” (p. 70), é preciso pensar no papel da indústria cultural, do noticiário, da política que vemos na TV e do streaming como participantes da formação do inconsciente coletivo. Há centenas de séries no ar e isso tem de ter um significado a mais para o capitalismo.
É a tal “matéria de expressão” de que fala a psicanalista Suely Rolnik em seu “Cartografia Sentimental: transformações contemporâneas do desejo” (Sulina, 2011). Entendo que a presente dinâmica de simbolização da mente passa pelo capital, se não, eu não sonharia tanto com ingredientes de séries que assisto ou dos espaços em que trabalhei. E isso significa dizer que o capitalismo fabrica inclusive os nossos sonhos. Ou pesadelos. Qualquer um que acompanha o noticiário sobre Trump entenderá o que digo. Diz Berardi: ”a virada neoliberal marcou uma transformação na infoesfera, aumentando a intensidade e a velocidade da relação entre infoesfera e psicoesfera, e o efeito dessa mudança foi o seguinte: a repressão foi substituída pela hiperexpressão, a negação foi substituída por uma espécie de emergência do fluxo inconsciente na cena visível” (Berardi, p. 75). Haja estrutura mental para sobreviver ao capitalismo! Que nosso mundo é fonte de adoecimento, isso já sabemos. Que seja a fonte de nossos pesadelos, é uma possível novidade. Que esteja afetando a mente, um novo campo de pesquisa. Mas talvez meus pesadelos queiram apenas me dizer, no meu caso, que estou vendo seriados demais.
Todos os textos de Jorge Barcellos estão AQUI.
Foto da Capa: Do filme O Iluminado / Divulgação