O romance policial nasceu em língua inglesa. Foi criação de um americano, Edgar Allan Poe. Embora tenha tido uma vida errática com períodos alternados de obscuridade e de reconhecimento, Poe teve uma ressonância imprevista em francês, quando Charles Baudelaire o saudou como o herói esquecido da modernidade. Poe criou aquilo que define a literatura policial como gênero: não o crime, que estava presente já desde as origens da literatura do ocidente, mas o detetive que vai desvendá-lo, Dupin, uma mente de raciocínio implacável capaz de ler o mundo como um livro aberto. Uma ideia que só poderia ter surgido quando surgiu, após o espírito mesmo da modernidade se espalhar pelo mundo, a partir da primeira metade do século 19. Curiosamente, como conta a escritora Kate Summerscale no livro As suspeitas do sr. Wicher, relato sobre um crime que gerou comoção sensacionalista na Inglaterra do Século XIX e sobre o investigador que a ele se dedicou, é a partir de 1829 que Londres, desesperada com o crescimento do crime que acompanhou a evolução monstruosa da cidade após a Revolução Industrial, criou a primeira “força policial” sistemática e ostensiva, com patrulhas formada por 3,5 mil homens organizados por rotas e turnos. Anos mais tarde, como o policiamento ostensivo não conseguia contribuir para a solução dos crimes, Londres apresentaria outra novidade que provocou bastante polêmica na época: policiais “à paisana”, sem obrigação de andar uniformizados, os “detetives” – esses homens incendiariam a imaginação popular e inspirariam, entre outros, Arthur Conan Doyle, que consolidaria o gênero policial com a criação do primeiro popstar da ficção policial, Sherlock Holmes.
Inglaterra, França e EUA formam a tríade histórica do gênero policial, mas, após o término da II Guerra, outras “escolas” nacionais do gênero floresceriam em vários países. Paulo Medeiros e Albuquerque, em seu livro O mundo emocionante do romance policial (Francisco Alves, 1979), conta que o Japão do pós-guerra viveu um surto de novelas policiais. O gênero logo se tornaria popular também em países como Austrália e Suíça (de onde sairia um mestre do gênero, o também dramaturgo Friedrich Dürrenmatt). Nas estáveis sociedades escandinavas, o policial firmou escola já no início do século XX, mantendo uma produção constante que foi se tornar conhecida em escala internacional apenas no início deste século XXI, com a onda de livros e séries do chamado “noir nórdico”, hoje presente em toda parte.
Em português
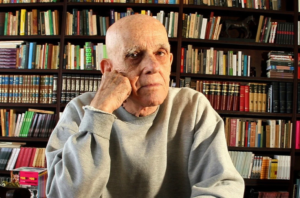
Em português, contudo, ao longo de boa parte desse tempo, as experiências realizadas com o gênero, tanto em Portugal como no Brasil, ficaram restritas a trabalhos esparsos de uns poucos e consistentes autores, nos quais o elemento policial normalmente é virado do avesso em narrativas em que: o detetive não resolve necessariamente o crime (O Silêncio da Chuva, de Luiz Alfredo García-Roza); o detetive não resolve o crime e ainda termina aniquilado pela estrutura maior por trás dele (Agosto, de Rubem Fonseca); a resolução oficial do crime é colocada em suspeita como parte de um trabalho porco realizado por uma polícia corrupta mais focada em proteger interesses do que em buscar justiça (O Caso Morel, de Rubem Fonseca). E por aí vai.
Há uma explicação bastante plausível para isso e, apesar de ela ser alvo constante de críticas, este seu colunista especializado no assunto ainda a aceita como bastante válida. Ela é chamada de “a hipótese autoritária” e parte de uma fórmula muito simples. Apesar de a narrativa policial ser consumida com regularidade em países mundos afora, há, aparentemente, uma condição inescapável para que ela seja PRODUZIDA com feições próprias. Para que uma cultura esteja apropriada para o nascimento de uma “escola” local de narrativas policiais, bem, é meio óbvio de que você precisa acreditar na eficiência da polícia.
Essa ideia foi esboçada por diferentes intelectuais autores de ensaios hoje considerados clássicos sobre a narrativa de crime: Howard Haycraft, E.M. Wrong ou Robert S. Paul: não há ambiente para o surgimento do gênero policial sem o fascínio popular pelo devido processo investigativo baseado em provas e evidências – que apenas com o advento da modernidade foi substituir a tortura como um instrumento judicial válido na história humana. É o fascínio provocado pela figura dos detetives como agentes do Estado em um ambiente em que o anonimato é a tônica tanto para o meliante quanto para a vítima o que vai levar à representação ficcional do crime como um mecanismo a ser desmontado e o criminoso como alguém a ser identificado sem nenhuma dúvida por meio dos devidos processos de análise de evidências. Em países de tradição autoritária, em que a polícia age oficiosamente, quando não oficialmente, como mera força auxiliar de um sistema arbitrário, acreditar que um crime será realmente resolvido por trabalho investigativo intenso e não pela imposição ao primeiro sujeito que a polícia encontrar pela frente é ou burrice ou autoilusão hipócrita.
Na esteira da democracia
Claro, a desconfiança popular da polícia não é um problema exclusivo do Brasil. A própria história do romance policial encara essa questão na mais dramática de suas rupturas, aquela que separa os romances de pura especulação intelectual em volta do mistério e o surgimento do subgênero do “romance noir” (ou do “hard-boiled”, também chamado), a partir do início dos anos 1930 – não por acaso, essa escola mais violenta, composta de detetives diletantes, quase sempre situados fora da estrutura policial, desencantados e muitas vezes amorais, surge nas revistas de entretenimento barato direcionadas à diversão da classe popular sofrendo mais drasticamente os efeitos do crash de 1929. Ali já estão presentes elementos inescapáveis de qualquer instituição humana: preconceito, corrupção, interesses financeiros sobrepujando o chamado “bem comum”. Como convém a um gênero nascido com a burguesia moderna, a solução vem do mais radical individualismo, a do “homem fora do sistema” que se prejudica tanto quanto avança nos casos que investiga.
A questão é que, em regimes autoritários como os que assolaram boa parte do século XX no Brasil e em Portugal, mesmo a ação deste “cavaleiro solitário” se vê severamente restrita ao ponto de que as histórias de crimes populares são as que se passam em outros países com outras configurações legais e outros modelos de ação policial. Após a II Guerra, a literatura de crime trafega ao redor do mundo como consequência secundária do avanço de regimes democráticos constitucionais. Portanto, não é de se surpreender que apenas durante boa parte desse período o romance policial vá ser um gênero mais lido do que praticado na literatura nacional.
Brasil e Portugal
O Brasil, que sofrerá movimentos de avanços e recuos no campo democrático ao longo do século 20, primeiro com a ditadura de Getúlio Vargas e mais tarde com a dos militares instalada a partir de 1964, demora a ter uma literatura policial própria, e apenas a partir da restauração da democracia após duas décadas de ditadura militar surgem tentativas em número suficiente, pelas mãos de autores como Luiz Alfredo García-Roza, Patrícia Mello, Tony Bellotto, Marçal Aquino, Reginaldo Prandi ou o muito recente Raphael Montes. Antes disso, as experiências nesse campo restringiam-se a poucos nomes e a casos isolados – sendo Medeiros e Albuquerque, Luís Lopes Coelho e Rubem Fonseca os casos paradigmáticos, não por acaso separados uns dos outros por décadas.
Em Portugal, onde primeiro Salazar e depois o Salazarismo estenderam suas mãos autoritárias sobre a sociedade por boa parte do século, o gênero policial também só vai aflorar com alguma consistência após os anos 1980 (antes disso, não se encontra muito mais do que a figura solitária de José Rodrigues Miguéis). A partir daí vai se tornar alvo de interesse de uma gama significativa de autores, muitos deles sem ligação exclusiva com o gênero, como José Cardoso Pires (A Balada da Praia dos Cães, 1982), Wanda Ramos (Litoral: Ara Solis, 1991), Hélia Correia (A Casa Eterna, 2001) e José António Saraiva (O Último verão na Ria Formosa, 2001). Até virmos a desembocar em Francisco José Viegas, autor que conseguiu a façanha de se dedicar ao policial por décadas e, ao mesmo tempo, e colher elogios da crítica
Mas claro, isso não significa que os livros policiais não fossem consumidos antes como literatura escapista tanto num caso quanto no outro. É bem conhecido o caso de António de Andrade Albuquerque, que, assinando com o pseudônimo de Dick Haskins, tornou-se o mais popular autor policial português do século XX, mas assinando tramas que em nada se diferenciam de pastiches do policial clássico inglês. É apenas a produção de uma literatura de massa policial nessas circunstâncias que se via comprometida pela desconfiança da própria estrutura policial a serviço do arbítrio ou pela pura e simples censura quando essa desconfiança é vazada para ficção (não esquecer que um dos mencionados pioneiros do gênero no Brasil, Rubem Fonseca, teve seu livro Feliz Ano Novo proibido pela censura da ditadura em seus estertores).
Conclusão
O policial em português se instala fazendo o elogio da dúvida, ou apresentando a conclusão desconfortável de que mesmo a resolução de um enigma pontual não oferece solução para enigmas maiores que circundam o crime. Como se mesclassem as perspectivas otimistas da modernidade ainda não cumpridas tanto por Portugal quanto por Brasil com a pós-modernidade para a qual ambos os países vão sendo empurrados pelas circunstâncias, tais romances dedicam-se, bem ao modo moderno, a uma reconstrução reflexiva dos mistérios violentos que habitam os recônditos mais íntimos de ambas as sociedades. Mas também abdicam da razão como a ferramenta para o ordenamento do mundo e mergulham no valor por excelência da pós-modernidade: o próprio indivíduo. A verdadeira busca não é pelo assassino, é por uma personalidade esquiva e melancólica que apresenta interrogações sem resposta.








