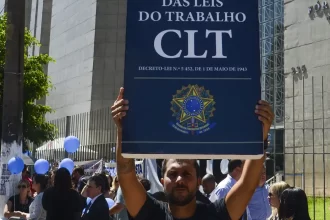Fui ao show de Roberto Carlos na Fenac, em Novo Hamburgo. Sim, todos temos nosso calcanhar de Aquiles. Não que eu vá muito, mas eu já havia ido a outros shows de MPB no Araújo Viana, ainda que minha trajetória de espectador seja maior no Teatro São Pedro. A MPB que curto vai de Chico Buarque a Roberto Carlos, no máximo. Minha base é a música clássica, que aprendi a apreciar frequentando na minha adolescência o Projeto Música para Juventude, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), na Reitoria da UFRGS, que, claro, ia porque eram de graça por ser pobre e estudante de escola pública. Ali aprendi todo o repertório clássico, eduquei meu ouvido musical. Por isso fujo do sertanejo universitário e de todas as formas bate-estaca como o diabo da cruz. Agradeço ao regente Pablo Komlós por suas lições.
Fui a shows muito tarde na vida, depois que já estava estabelecido na carreira pública e tinha dinheiro para isso. Shows são objetos de desejo caros. Isso tem razão de ser na história do show business. Hoje servem para ter uma experiência de um tipo de capitalismo. Gilles Lipovetsky & Jean Serroy, em A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista (Companhia das Letras, 2015), afirmam que hoje a arte e a estética estão a serviço do mercado, apelando para a sensibilidade dos consumidores. A definição dos autores do atual sistema capitalista como artista soa estranha, mas tem sentido. Graças a este sistema, “os jardineiros se tornaram paisagistas; os cabeleireiros, hair designers; os floristas, artistas florais; os cozinheiros, criadores culinários; os tatuadores, artistas tatuadores” e assim, sucessivamente, os autores mostram a evolução de profissões tradicionais e sua transformação em técnicos artísticos de mercado. Roberto Carlos só poderia ocupar um lugar nesse espectro: não apenas como um músico artista, mas como rei, como o lugar ocupado na cultura americana por Frank Sinatra ou Edith Piaf entre os franceses.
A era do capitalismo artista
Mas como relacionar talento e indústria nesse mundo? Lipovetsky & Serroy afirmam que a arte da canção atravessou uma transformação importante com a gravação que a indústria possibilitou. Os espetáculos, antes limitados ao instante da apresentação de um músico e sua obra, graças à gravação, puderam ter sua escuta reproduzida de forma contínua e repetitiva. Esse foi o universo em que Roberto Carlos construiu sua carreira, o da era do disco. Lembro-me de, na adolescência, ter discos de Roberto Carlos, assim como de alguns outros músicos da MPB como Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque e Elis Regina, além dos clássicos e de trilhas sonoras. Talvez Roberto Carlos fosse o menos crítico de todos, o que descobri frequentando meu curso de história na UFRGS, mas era um cantor de músicas que sempre gostei de ouvir em um pequeno toca-discos Philips de duas caixas. Sem saber, eu já me considerava um esquerdista: era um aparelho vermelho.
A indústria do microssulco de 33 rpm encontrou na juventude em geral, e na minha em particular, um terreno fértil nos anos 70, crescendo 10 a 20% por ano, dizem os autores: “Nos Estados Unidos, das 250 milhões de unidades produzidas em 1946, passaram para mais de 600 milhões em 1973”. A música de Roberto Carlos passa a ser parte da identidade de uma geração de jovens, como eu, que se identificam com seus temas românticos e seu ritmo leve. “O capitalismo artista, por meio das técnicas de reprodução musical, intensificou os gostos musicais e desenvolveu a sensibilidade musical de um número crescente de pessoas, engendrou verdadeiras idolatrias, beirando às vezes à histeria”, dizem os autores. Roberto Carlos é um desses ídolos religiosamente ouvidos que soube utilizar as técnicas e a indústria à sua disposição, que incluíam ao longo de sua carreira, inclusive o cinema. Lipovetsky & Serroy afirmam que, diferente do que defende o ensaísta e crítico literário alemão Walter Benjamin (1892-1940), isso não significou o desaparecimento da aura original.
Eu ainda consigo ver a aura de Roberto Carlos, um senhor de 83 anos. Eu acompanho uma geração de artistas que envelhece comigo: não apenas Roberto Carlos, mas Milton Nascimento e Chico Buarque envelheceram fisicamente, mas isso não significa que sua autenticidade tenha sido reduzida, ao contrário. O vovô cantante Roberto Carlos não fez feio, não fez playback, seu corpo pode ter envelhecido, o que pode ser visto por sua aparência, mas não sua voz. É da vida, ainda que a sociedade de consumo teime em nos vender a juventude como ideal. Entro no saguão de entrada, onde uma atendente me afixa um bracelete de identificação. Ela diz: “É bom ver o show. Pode ser um dos últimos”. Eu digo: “Espero que ainda haja muitos”, frase típica de um fã. Ela vê a gafe e diz, rapidamente, um “é claro”, mas sabemos disso secretamente, sabemos da finitude, mas não dizemos que é verdade. Mas algo faz o idoso Roberto Carlos ir para a frente, com seus passos um pouco lentos, com seus diversos shows agendados no Rio Grande do Sul e logo em seguida, no México. Ele não tem a agilidade de um Ney Matogrosso, mas cada velhice é diferente, não? Entendo que existe o grande valor do capital e da indústria envolvidos. Mas o considero um artista de valor com o qual me identifico em sua luta contra a finitude. Esta visão é sentimental porque sou fã.
Ser fã é uma identificação
Não há como evitar a identificação. Sabemos da infância pobre, do início difícil, das portas que se fecharam para o início de sua carreira, dos dramas que passou ao longo da vida, tudo reunido por Paulo Cesar de Araújo em seu Roberto Carlos em detalhes (Planeta, 2006). Diferente dos fãs que correm atrás das rosas atiradas pelo cantor – falarei delas ao final -, eu corri atrás da biografia lançada no dia 2 de dezembro daquele ano. Como se sabe, no dia 10 de dezembro, o cantor entrou na justiça com duas ações: uma contra a Editora Planeta e outra contra o autor do livro. A Justiça deu ganho de causa a Roberto Carlos e o livro foi retirado das lojas ao final de fevereiro de 2007. Garanti meu exemplar, então, ilegal. Não se preocupe, estimado leitor, não sou um criminoso: em 2015, o STF decidiu, por unanimidade, pela liberação das biografias não autorizadas.
Sou fã, ainda que me sinta pertencente à geração de 68. Nesse ano, eu tinha quatro anos, é claro, não tinha a ideia que alimentou minha formação superior em história que diz que tudo deve se submeter ao político, à crítica do capital: “Alegava-se que sua música era desvinculada das raízes brasileiras. A partir da década seguinte, a crítica se tornou mais política, quando se afirmou que sua música não seria engajada nas questões sociais. A partir daí, a geração de 68 não deu trégua a Roberto Carlos, cobrando dele posições mais arrojadas, atitudes de engajamento, uma participação dita comprometida com a realidade brasileira” (Araújo, p.319). Mas o próprio Araújo reconhece que, em primeiro lugar, Roberto Carlos nunca se propôs a ser uma liderança revolucionária em sua arte. “Eu sou o que sou e acho que tenho o direito de ser assim” (p. 320), teria dito. A razão da ausência da crítica social em suas canções foi revelada por Erasmo Carlos, seu companheiro de música: “Ninguém lia jornal na Jovem Guarda, ninguém se interessava por política. A gente não teve essa formação. A minha casa nunca comprou jornal. A gente ligava o rádio para ouvir música” (p. 321). O que era completado por relato do próprio Roberto Carlos: “Nunca fui muito amante dos livros, embora soubesse que é importante ler. Não tenho paciência para leitura e sempre que começo a ler alguma coisa me dá uma vontade de pegar o violão. E o violão sempre ganha.” O que leva o autor a concluir sobre as origens das limitações de ambos para responder a exigências intelectuais que se faziam sobre eles à época.
Araújo parte em defesa de Roberto Carlos, entretanto. Ele afirma que o cantor não seria, por isso, um alienado. O motivo disto é sua visita a Gilberto Gil e Caetano Veloso em Londres, quando por ocasião de seu exílio. “Como um rei, de fato, ele claramente falava e agia em nome do Brasil com mais autoridade e propriedade do que os milicos que nos tinham expulsado, que a embaixada brasileira em Londres que me considerava persona non grata e muito mais do que os intelectuais, artistas e jornalistas de esquerda que a princípio, não nos entenderam e, agora, queriam nos mitificar”, diz Caetano Veloso. Isto mostra que Roberto Carlos, se não tinha conhecimento político, tinha sensibilidade política. Sabia reconhecer uma injustiça. Já é um começo. Depois disso, compôs a canção ‘Debaixo dos caracóis dos seus cabelos‘, que se tornou um sucesso, sua homenagem ao exilado brasileiro. E depois veio a canção Como Dois e Dois, frase citada num poema de temática social por Ferreira Gullar, onde, em pleno governo Médici, dizia que “Tudo vai mal, tudo”, o que foi, de certa forma, uma afirmação do Brasil. Sua atuação foi mais em termos de defesa da ecologia, a defesa das florestas e contra a matança das baleias, o que significa que, se não foi um cantor político, ao menos foi um cantor engajado. Tachado de alienado, patrulhado, o cantor fenômeno de nossa cultura agiu dentro de seus limites e visão de mundo. Digo isso para me desculpar. Sou de esquerda, mas gosto do Roberto. O que fazer?
Roberto Carlos como marca
O autor afirma que Roberto Carlos foi, por toda uma vida, o cantor popular brasileiro mais famoso do país. Mas será que um idoso como ele não vê isto hoje como um último refúgio? O que Roberto Carlos ama e lhe mantém vivo não é exatamente essa idolatria, ocupar o espaço do ídolo do show business? Dizem Lipovetsky e Sarroy, citando a escritora Nathalie Henrich: “as estrelas não são reproduzidas porque são estrelas, mas são estrelas porque são reproduzidas” (p. 213). A citação fala da arte, mas também do modelo comercial de Roberto Carlos. Ele foi estabelecido por Elvis Presley, com fã-clubes espalhados pelo país, cartazes gigantes para fotos e comércio de produtos que estavam para venda na entrada do espetáculo, onde havia desde camisetas até bonés e xícaras.
Roberto Carlos, como Presley, foi construído como uma imagem de marca, o RC que as imagens do telão reproduziam. Assim como o Coronel Parker construiu a carreira do cantor americano, Leo Esteves, filho de Erasmo Carlos, é quem constrói a carreira do cantor: “Uma obra-prima do gerenciamento, incessantemente repensado, retrabalhado, retocado como uma escultura, uma peça de mármore que nunca acaba, que seu autor remodelava continuamente de acordo com as modas artísticas e os gostos da hora” (p. 213). A descrição de Lipovetsky & Serroy não serve assim também para o espetáculo de Roberto Carlos? Você já viu seu gestual nos programas de televisão de final de ano, nos programas do Fantástico, e no show, mais uma vez, eu vejo que ele repete os mesmos gestos e movimentos numa coreografia ensaiada que é, ao mesmo tempo, artificial, pois visa o sucesso de um empreendimento comercial, mas também é artística, pois o indivíduo que está ali também tem sua história e participa do roteiro de sua própria apresentação. Por que ele faz isso? Para que possamos amá-lo ainda mais. O que garante o consumo e a compra do ingresso.
Isso faz do show de Roberto Carlos uma notável experiência antropológica. Ele faz parte do mercado do disco, do qual foi grande artífice no Brasil, com músicas ouvidas nos rádios de pilha ou no toca-discos, como eu fazia quando adolescente em um modesto apartamento JK de um prédio inacabado na Rua Ramiro Barcellos, onde passei meus anos de juventude. Não tem jeito: você pode ler, escrever críticas, mas termina por ceder ao apelo comercial de Roberto Carlos porque também ele tem uma história em nossa memória afetiva. A memória precede o aprendizado. Hoje, deveríamos ir a shows musicais com um caderno de anotações, como fazia Malinowski em sua pesquisa antropológica. É que, para mim, não basta curtir o show, eu preciso, por formação, compreender o seu significado, o que só consigo fazer com o show musical com os instrumentos da etnografia: você observa não somente o show, mas os presentes, procura os significados de suas atitudes, analisa o conjunto dos comportamentos e atitudes. E curte a música.
A tribo de fãs
Para começar, nos termos de Michel Mafessoli em seu O tempo das tribos: declínio do individualismo nas sociedades de massa (Forense Universitária, 1987), a legião de fãs que Roberto Carlos conquistou pelo mundo não deixa de ser uma tribo, “ela cria uma união que não significa uma presença plena no outro (o que remete ao político), mas antes estabelece uma relação oca que chamarei de relação táctil: na massa a gente se cruza, se roça, se toca, interações se estabelecem, cristalizações se operam e grupos se formam” (Mafessoli, p.102). O auditório é esse espaço onde a massa produz sua fusão, é uma nebulosa afetual, “a forma específica assumida pela socialidade em nossos dias: o vaivém massas-tribos” (p. 107). Quando você está num auditório para um show, é como se estivesse entre nativos: você está imerso em um acontecimento cheio de significados. Você é um fã, o que significa que possui uma relação de admiração por um artista, mas também com outras pessoas, um grupo, que talvez você nem conheça, mas fazem parte de sua vida social. Como em Os Argonautas do Pacífico Ocidental, obra de Malinowski sobre os trobriandeses, você vê no show reproduzirem-se hábitos de sociedades arcaicas, ainda que os fenômenos de tecnologia estejam cada vez mais presentes. Ali, signos de magia e religião se repetem, mas também os que caracterizam nossa sociedade de consumo. Esse sistema de crenças, hábitos e valores modificados pelo capital me interessa.
O show é um mundo ritualizado. Há etapas a seguir. Mas a divisão de classes está lá para dar os contornos. Desde a aquisição, está dado quem estará próximo do ídolo, pois proximidade é um signo de distinção social. Os valores dos ingressos mais próximos são exorbitantes, se comparados àqueles que se satisfazem apenas com as imagens dos telões. Felizmente, para mim, idoso paga meia. Nesses espaços, o cartão de crédito é tão importante como a benzedura do passado: ele está presente em todos os momentos. Hoje, o xamã aparece para você na figura da atendente com uma vareta indicativa colada nas costas e uma máquina de cartão de crédito nas mãos. Se você quer estacionar o carro, ela está lá; se você quer comprar o ingresso na última hora, também. Se você busca por uma água – novidade, também.
Nesses espaços, também a lógica de guerra impera, tal como prevê Paul Virilio em Guerra Pura (Brasiliense, 1987). É preciso logística para tratar de multidões de fãs. O controle de rotas de abastecimento de exércitos é substituído pelo controle dos fluxos dos visitantes. Conforme seu poder social-capital, são divididos em áreas, como eram as guarnições durante a Segunda Guerra Mundial: área azul – privilegiados, área amarela, área verde e assim sucessivamente até as classes populares. Há, é claro, aqueles que parcelaram no cartão de crédito, ascendendo socialmente nas fileiras desta organização social. Pagarão por doze meses o gozo de duas horas. Uma vez com uma etiqueta selada em seu braço – sim, também eles usam as táticas hospitalares, pois ali também é uma situação de emergência – você é direcionado para sua ala e só pode voltar a ela. O fluxo está sob controle. Movimento é poder.
Etnografia da plateia
Você senta em sua área. Cada área é um microcosmo social, expressão das classes que ali têm capacidade de comprar o ingresso. Ricos e pobres repetem sua divisão no auditório e seus hábitos: enquanto nas primeiras cadeiras, ricos bebem seu luxuoso champanhe em taças, os habitantes da última fileira se contentam com água sem gás e cerveja. Mas há uma notável diferença: enquanto os pobres tomam sua água discretamente, é um gesto para si, os ricos bebem seu champanhe para os outros. Bebem sempre de pé. Aqui, na classe dominante, como sempre, importa menos o ser e mais o aparecer. O trânsito de baldes de champanhe torna-se insuportável. Felizmente, há algo que unifica a todos, garante a democracia do lugar: as cadeiras. São todas elas de plástico, como aquelas de nosso churrasco na casa de praia. Fim do elitismo. Pelo menos até os ricos terão de se apertar se quiserem ver o show. O popular venceu, ao menos para seus organizadores. Mesmo isso é apenas um detalhe do capital: é mais barato, menor e possibilita caber mais pessoas.
O show está prestes a começar. No capítulo quarto de A Estetização do Mundo, Lipovetsky & Serroy dedicam-se a descrever as características desse império do espetáculo e do divertimento. “Com o desenvolvimento do capitalismo artista, as fronteiras tradicionais que separavam cultura e economia, arte e indústria se esfumaram: a cultura torna-se uma indústria mundial, e a indústria se mistura com o cultural. A economia está cada vez mais na cultura, e esta na economia: à economização crescente da cultura corresponde a culturalização da mercadoria. Não são mais as artes, apenas, tradicionais ou novas, que constituem a cultura, mas todo o nosso ambiente comercial de imagens e de lazeres, de espetáculos e de comunicação. É uma hipercultura midiática-mercantil, que se constrói não apenas com as indústrias do cinema, da música ou da televisão, mas também com a publicidade, a moda, a arquitetura, o turismo. Uma cultura que tem como característica implantar-se sob o signo hiperbólico da sedução, do espetáculo, da diversão de massa” (Lipovetsky, p. 262-263).
Olhando essa indústria imensa, sinto saudade dos tempos em que se podia ouvir um cantor simplesmente da mesa de um bar. Eles também mudaram, como o bar do Beto, que deixou a esquina das ruas Venâncio Aires com Vieira de Castro, cujo aspecto lembrava mais o Dirty Old Man Bar visitado por Charles Bukowski (há hoje um bar que o homenageia na Lima e Silva) para se transformar em outro espaço gourmet para os abastados. Lipovetsky e Serroy afirmam que, dos programas de TV à arquitetura museal, passando pela moda, esportes, teatro e show business, tudo vira superprodução de dimensões espectrais da lógica do espetáculo levada ao extremo. “Em toda parte, o capitalismo de consumo se faz empreendedor artístico, empresário de uma inovação cultural destinada à distração das grandes massas.” Arte, animação, lazer, ambiência, marketing, tudo se mistura e se interpenetra permanentemente, dando à própria noção de cultura e de arte uma extensão e uma definição novas: não mais o território patrimonial da alta cultura clássica, mas uma hipercultura de objetivo mercantil baseada nos recursos do espetáculo e do divertimento generalizados” (p. 264). Não tenho certeza de que gosto disso.
Os superespetáculos.
Estar no show de Roberto Carlos nos permite participar do que os autores chamam de “capitalismo criativo”, outra definição que se soma à de capitalismo líquido de Zygmund Bauman, entre tantas outras definições. Seu centro está na definição não de sociedade do espetáculo, de que falava Guy Debord, mas na de sociedade do hiperespetáculo, o entretenimento sem fronteiras. “Nesse sistema em que os signos remetem apenas a eles mesmos, sem outra finalidade senão o impacto espetacular, midiático e mercantil, somos testemunhas de uma orgia de artifícios, de brilhos e efeitos publicitários, de eventos supermidiatizados e emocionais, de extravagâncias e de imagens extremas”. Está tudo ali no imenso jogo de luzes construído para impactar a seleção de canções feitas para nos emocionar. Seu show é, portanto, também um retrato de nossa época em sua união do econômico, divertimento e sedução, e se o espetáculo nos mostra algo além do artista, é esse triunfo do entertainment generalizado de que fala Lipovetsky.
Tudo isso me surpreende porque sou do tempo em que se ia para um show para ouvir, apreciar e olhar um músico. Isso tudo mudou. Agora se vai para tirar dezenas de selfies, fotos feitas antes, durante e depois do show. Vejo à minha frente três mulheres. Uma de mais idade, as outras, mais jovens. Estão de roupa azul, como prega o cantor. Um azul chamativo. São fãs. Mas ser fã hoje é algo diferente do que foi no passado. Entendo que você não admira mais o ídolo, admira apenas a si mesmo. O ídolo é só um pretexto. Vi espectadores passarem a maior parte do tempo fotografando-se a si mesmos enquanto cantavam junto com Roberto Carlos…de costas para ele! Uma moça, ao meu lado, fazia sucessivamente fotos com seu celular e parecia possuir um bom zoom para conseguir os melhores enquadramentos de todas as posições de Roberto Carlos. Amplia, recorta, grava, posta. Repete infinitamente o gesto, um novo ritual. Ali mesmo. Nem o impacto espetacular das imagens produzidas pelo artista, o show marcado por uma imensa luz e uma bela seleção de canções da Jovem Guarda, é suficiente para garantir a sedução das massas. Mais do que capitalismo artista, é um capitalismo artista sob a marca da sociedade digital.
Quem paga para apreciar o show adquire o direito de olhar. Quem trabalha nele, não. Nesse universo de olhares, vi dezenas de trabalhadores. Eles garantem que o show seja eficaz. Eu já trabalhei em eventos na Usina do Gasômetro nos anos 90. Eu me lembro que sempre dava para curtir o show também como parte do trabalho. Hoje, no capitalismo artista, trabalhar exclui o prazer. Eu vi uma funcionária sentada, provavelmente segurança, e o que me chamou a atenção é que ela ficou durante todo o tempo do espetáculo fixamente sentada olhando para o auditório. De costas para seu ídolo. Ela não virou o rosto em momento algum. Ela estava no show, mas não o viu. Isso não é um absurdo? Essa privação do olhar é produto da sociedade de vigilância, de que fala Shoshana Zuboff. Ela mostra que o show é o objeto, mas o foco é na visão dos clientes e na vigilância dos seguranças. Existe um motivo para isso. Encontrei duas imagens para ilustrar o que penso.
A rosa como problema
É que os shows de Roberto Carlos se tornaram muito violentos [contém ironia]. O motivo são as rosas que o cantor distribui ao final. Diz a lenda que ele teria dado uma vez um cravo da lapela para alguém que conhecia no auditório e lhe sugeriram que repetisse o gesto nos shows seguintes. Como o cravo é difícil de encontrar, passou-se para rosas. Ele não imaginaria que, décadas depois, o gesto se tornaria um problema. Ele fala no início do espetáculo algo como “por favor, não se matem pelas rosas”. Mais ou menos três músicas antes do final, o povo já começa a se juntar próximo ao palco para pegar as rosas, vermelhas e brancas, que, como se sabe, o artista distribuiu no encerramento do show. A expectativa é grande, já que o título do espetáculo é, justamente, “Eu ofereço flores”. A primeira imagem me vem quando a multidão se junta, instante em que eu e minha esposa nos afastamos para vermos um pouco à distância e em segurança o final do show, é a da turba de fãs que, com seus braços levantados, e aí a imagem fundamental, me lembrava esses cadáveres andantes da ficção, mortos-vivos, verdadeiros zumbis à procura de uma… rosa! Jorge Fernandez Gonzalo, em Filosofia Zombi (Anagrama, 2011), os descreve como a desconstrução do sujeito como a que se encaminha na sociedade tardocapitalista. Gonzalo usa a imagem dos zumbis para falar de um modo de compreender os efeitos do capitalismo sobre nós, eu uso a sua imagem para descrever o comportamento de um grupo de pessoas no final de um show que diz muito dos tempos em que vivemos.
Não há como não associar o zumbi com as pessoas que, desesperadas, eram capazes de qualquer coisa por uma… rosa! A massa de braços levantados, elas empurravam-se, apertavam-se na multidão e, para meu desespero, havia muitas senhoras de idade que terminaram ficando no meio do turbilhão. Vi gente subindo nas cadeiras para logo despencar em direção ao solo; vi pessoas desesperadas que, ao pegar a rosa com tanta força, a destroçavam no exato instante em que tomavam posse dela, pela força depositada em suas mãos. A produção da equipe do show já se antecipou: as rosas não têm espinhos. Se tivessem, veríamos sangue. O zumbi fala exatamente dessa falta de relação com os demais, essa forma instintiva ou zumbi de servir-se da própria animalidade do gesto. Não é preciso voltar às cenas do filme Noite dos Mortos-Vivos (1968) para deparar-se com uma multidão de zumbis deformados: basta imaginá-los ali nas primeiras filas do espetáculo de Roberto Carlos, onde, nesse desespero por uma rosa, se mostra que estamos diante da personificação simbólica de nosso próprio apocalipse. “O zumbi é, em nosso estudo, não outra coisa que se não um artefato cultural, uma ferramenta mítica para produzir um determinado efeito de significação, um psiquismo, uma síntese conceitual necessária” (Gonzalo, p. 195). A ideia de zumbi do autor encarna a imagem do sujeito pós-moderno, exatamente a produzida por um capitalista sobre a alma: ela nos diz que estamos nos transformando em seres esfomeados, imagem exata do tipo de seres que o capitalismo atual deseja produzir.
O desespero das carpas é o nosso
Mas há uma segunda imagem que me vem à mente quando vejo aquelas pessoas desesperadas em direção à rosa. Na minha infância, acho que com uns oito ou nove anos, eu costumava ir ao Parque Farroupilha com minha mãe para jogar farelo de pão para as carpas (Cyprinius carpio), lá nos anos 70, um divertimento que seria muito mal visto hoje pelo politicamente correto e pelo movimento ecologista. Eu me lembro da sensação que misturava alegria, mas uma dose de perversão, de ver aqueles animaizinhos desesperados pelo farelo, pulando uns sobre os outros, exatamente como aquelas pessoas desesperadas pela rosa de Roberto Carlos. Eu não sabia que, das espécies que ali habitam, como lambari (Astyanax sp.), o cascudo (Hypostomus sp.), o cará (Geophagus brasiliensis), joana (Crenicichla lacustris), a carpa (Cyprinus carpio) que eu alimentava, junto com a tilápia (Oreochromis niloticus), eram espécies exóticas ali. Exótico é um animal que não é nativo de uma região, exatamente como aquelas pessoas que não são o tipo frequentador de espetáculos musicais. Por isso gosto muito das peças de Antônio Fagundes: todos sabem o quanto ele exige respeito pelas apresentações. Público é uma coisa, ator é outra. Há um espetáculo em cena. Deve-se observar com respeito. Nada de burburinho ou barulho. Respeito é exatamente isso, uma certa distância, diz Byung-Chul Han. Deveria existir uma espécie de Código de Ética dos Espectadores de Shows, onde seria proibido celulares, tomar cerveja, ficar aos berros e distrair-se com qualquer outra coisa que não seja o espetáculo. Nele seriam permitidos apenas um leve balançar com a cabeça, bater palmas e ou as solas dos pés, excessos que também têm sua história.
Eu pensei: “Aquelas pessoas são como carpas”, em seu desespero por farelo de pão. Exóticas, porque foram trazidas de um outro universo, ou melhor, é um outro universo que organiza sua subjetividade, não o da apreciação da obra de arte. Cada um aprecia do jeito que quer – você dirá – já que pagou por isso. É disso exatamente que falo, desse liberalismo sob a forma de subjetividade, das condições que nos fazem assumir essa atitude como natural em um espetáculo: ela não é a imagem do tipo de sujeito desejado pelo capital, mais uma vez a do sujeito desesperado, o que faz qualquer coisa por… migalhas? Não é exatamente isso que fazem o trabalho de plataforma com suas mínimas retribuições pelo serviço realizado? Não é por essa recusa que empresários recentemente vieram a público reclamar de que não encontram trabalhadores para vagas que remuneram em cerca de… um salário mínimo? A superexploração não é uma realidade econômica apenas, ela é uma formação de subjetividade específica que visa nos fazer aceitar as condições indignas da exploração. Deixemos de ser carpas! Façamos a revolução! Se eu peguei alguma rosa? – Você pergunta. Em minha defesa, só posso dizer que estava nas filas iniciais do espetáculo por ser aposentado e que procurei ficar longe do amontoado desesperado. Longe das… carpas (risos). Mas eu peguei uma. Foi assim. Roberto Carlos começou a lançar rosas para mais longe depois que gritaram do fundão. É a defesa da igualdade, você sabe. Por algum milagre, caiu uma rosa no chão perto de meus pés e a peguei para presentear a minha esposa. Sem riscos. Que fique claro: eu não fui em sua direção, ela veio até a mim. Não empurrei, não pisei, não pulei em cadeira, não fiz fiasco, não me portei como criança e não gritei atrapalhando as últimas canções como vários ali fizeram, apenas, graças à minha boa forma de velho, me abaixei. Mas confesso que onde eu estava havia apenas idosos, e você sabe… idoso não se abaixa (pano rápido).
Todos os textos de Jorge Barcellos estão AQUI.
Foto da Capa: Reprodução do Instagram