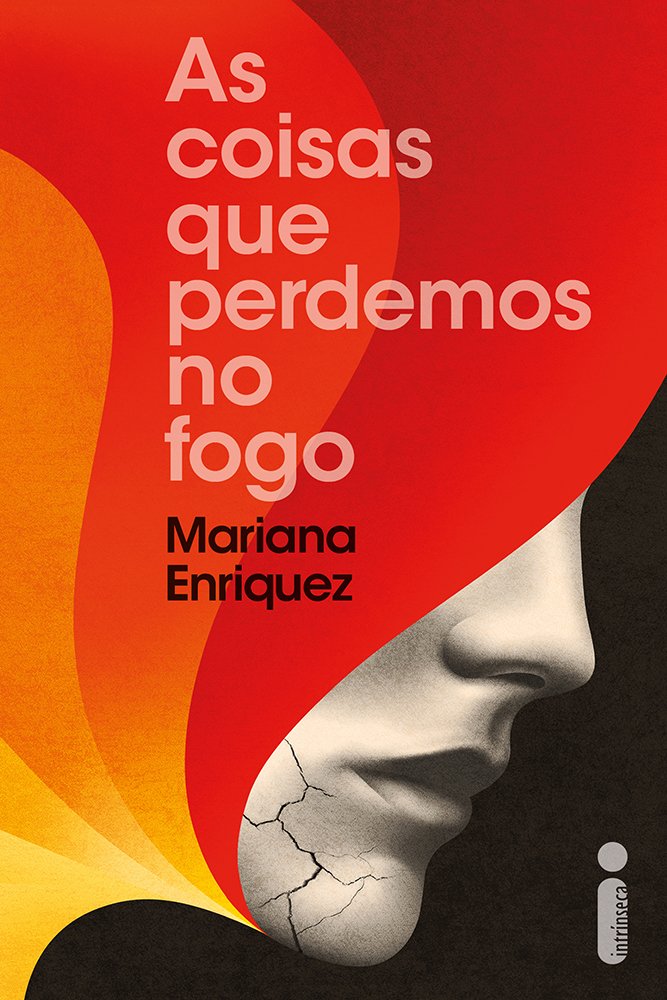História real: em dezembro de 2007, quando morreu a socióloga e economista Vera Sílvia Magalhães, importante nome da esquerda brasileira e que fez parte da luta armada contra a ditadura militar, fui pautado para escrever um texto sobre ela na, se não me engano, contracapa do Caderno de Cultura de Zero Hora (“se não me engano” porque não sou de guardar recorte e, acredite, o “maior jornal do Sul do país”, embora prometa na sua seção de pesquisa de acervo “edições completas partir de 1999”, não traz edições digitalizadas do Caderno Cultura, suplemento que o jornal manteve “apenas” por duas décadas. Conhecendo o tanto de gambiarra que faz parte da arquitetura daquele site, talvez seja bug. Mas divago).
Vera Sílvia Magalhães não apenas esteve na luta armada, mas ocupou um espaço no imaginário. Com os codinomes de Dadá ou Márcia, ela fazia parte do MR-8 e participou de vários assaltos a supermercados, bancos, carros-fortes, ao cofre na casa de um político (o deputado Edgar de Almeida – aliás, da oposição) e da mais famosa ação guerrilheira do período, o sequestro do senador americano Charles Elbrick, em setembro de 1969.
Vera usava em muitas de suas ações uma peruca que lhe valeu o apelido, nas internas da repressão, de “a loira dos assaltos”. Única mulher na equipe de mais de 10 pessoas diretamente envolvidas no sequestro, Vera foi “dividida em duas” no filme “O que é isso companheiro“, inspirado nas memórias de Fernando Gabeira sobre o período, em que parte de suas ações é interpretada por Cláudia Abreu e parte por Fernanda Torres – seja lá qual tenha sido o motivo da divisão, feminismo é que não foi, uma vez que a narrativa, para aumentar o drama, faz uma dessas personagens usar o sexo como meio de obtenção de informações – uma certa fantasia masculina clichê de histórias de ação e espionagem que Vera e várias outras militantes do período vieram a público denunciar como mentira na época do lançamento do filme.
Bem, parte disso aí em cima eu escrevi na matéria, e ela foi publicada. Desenho de página basicão, foto rasgada da personagem na metade de cima, o texto abaixo em cinco colunas, e era isso. Não me recordo quase nada do formato do texto em si, tenho certeza de que não devia estar ruim, embora duvide que estivesse particularmente bom.
A correspondência
Texto na página, jornal na banca, pronto para virar embrulho de feira ou para absorver umidade em chão de concreto etc. Vida que segue. Mas aí, logo na semana seguinte, chega pelo correio à redação um envelope branco, comum, correspondência anônima endereçada diretamente a mim. Receber cartas de leitores ainda não era naquela época a raridade que se tornaria mais tarde, então peguei o envelope, abri e, dentro, encontrei a página da minha matéria com uma frase manuscrita em letras maiúsculas a caneta esferográfica sobre a foto de Vera Sílvia: “que a terra lhe seja leve”.
Nesse tempo que parece outra vida, foi esse episódio a minha descoberta particular da primeira fissura perigosa no frágil consenso que havia contra o período de exceção. Não era ainda muito comum que a imprensa desse voz a muitas figuras relativistas – e o próprio ex-presidente hoje foragido ainda não havia ocupado os espaços que atrações em busca da audiência que vem com o sensacionalismo barato travestido de humor, como CQC e o Pânico na TV, franquearam a ele tão generosamente um ou dois anos depois. E ainda assim, alguém – sempre imaginei alguma espécie muito particular de idoso, um milico aposentado, por exemplo – se deu ao trabalho de rabiscar aquela frase provocadora, colocar num envelope endereçado à ZH e a mim, o autor da matéria, levar ao correio (ou mandar alguém levar) e despachá-lo.
Não era apenas o que mais tarde se chamaria “zoeira”, normalmente obedecendo a um impulso imediato tornado possível por redes sociais e pela internet. Ali havia outra coisa. Deliberação, premeditação, algo que só a força de um ódio e de um ressentimento muito fortes explicariam.
Era o gesto de uma personalidade tão minúscula e mesquinha que, não bastasse comemorar a morte de alguém, o fazia lançando uma provocação a qualquer um que ousasse ter uma palavra elogiosa a seu respeito. E, claro, como esse tipo de mentalidade floresce e desabrocha bastante no esterco da covardia, a carta também fora enviada sem assinatura, porque gente como essa ainda estava na época acuada o bastante para só expressar suas perversidades a boca pequena ou protegida pelo anonimato. É isso que muitos que votaram no atualmente foragido ex-presidente não quiseram entender quando muito se alertou, em 2018, do risco de dar poder a tal figura e ao que ele representava, e é por isso que se diz com todas as letras que aquele oligofrênico fez muita gente se sentir autorizada a coisas que antes não tentariam – e é isso que muito idiota ainda hoje não conseguiu entender.
Mas lá nas pradarias verdes da primeira década do século, eu estaria mentindo se dissesse que achei aquilo preocupante. Algo desligado das marés do mundo concreto e com a cabeça mergulhada nas nuvens da literatura e da história, eu simplesmente mostrei o recorte, divertido, a meus colegas mais próximos, à editora do Segundo Caderno, Cláudia Laitano, e depois o joguei fora (hoje, acho que deveria ter guardado). O que pensei, isso sim, era no quão obsoleta seria uma múmia daquelas para expressar ódio por alguém que não conhecia a alguém que nunca viu e em um método tão em vias de desaparecer, como uma carta. Claro, se estamos falando hoje, vocês sabem que eu estava totalmente errado e que a coisa deu muito ruim.
O filme
Corta para o fim de 2022 e início de 2023, período no qual um dos filmes mais comentados dos últimos meses é Argentina: 1985, produção da Amazon Prime estrelada pelo obrigatório Ricardo Darín (foto da capa) e que aborda, com a chave da ficção, os processos a que os tribunais civis do país vizinho submeteram os principais comandantes das juntas militares que submeteram o país a um regime de terror mais ou menos na mesma época em que os nossos milicos faziam o mesmo.
É um filme que, favorecido pela conjuntura histórica de sua produção e data de estreia, capturou corações e mentes, não apenas na Argentina onde tudo aconteceu, mas aqui no Brasil, então em plena possível escalada de um novo totalitarismo de extrema direita. Não apenas as resenhas de profissionais do ramo foram elogiosas como também foram entusiasmadas as recomendações boca a boca nas conversas de bar, nos fios de Twitter e nos textões de Facebook, e tudo o que eu gostaria de ter feito seria embarcar no trem e amar o filme, mas o que vi foi uma peça interessante em que boas atuações sofrem com um roteiro que oscila entre os truques cinematográficos hollywoodianos que às vezes o cinema comercial argentino sabe dotar de feição própria e a necessidade de ser verídico com um assunto tão sério. E no fim, minha sensação assistindo ao filme foi de tristeza, mas talvez não a mesma tristeza de todo mundo. Não havia só tristeza pelo ponto a que a barbárie da ditadura argentina chegou, pelos horrores perpetrados, mas aquela melancolia de quem em pleno século XXI lê a Utopia pela primeira vez e descobre que está confrontando uma fantasia ideal com una perra realidade, digamos, para acenar aos hermanos.
O filme é focado na figura de dois promotores, o veterano Júlio Strassera (Darín) e o novato Moreno Ocampo (Juan Pedro Lanzani – foto da capa). Strassera é um velho funcionário cansado e hesitante, temendo o tempo todo ser o boi de piranha lançado pelo poder público num teatro para as massas que talvez não leve a lugar nenhum, dado o caráter ameaçador das forças armadas chantageando a sociedade com uma possibilidade de revolta permanente. Ocampo é um jovem esquentado vindo de família da alta burguesia com ligações umbilicais com os militares golpistas. Sem apoio dos profissionais de sua geração, Strassera se vê obrigado a apelar para advogados recém-formados ou ainda estudantes, mas sem medo e sem rabo preso, e só assim consegue montar o caso que resulta parcialmente vitorioso (Videla, a hiena responsável pelo regime, é condenado, por exemplo. Muitos de seus asseclas não).
Tese x forma
Uma das contradições não solucionadas a contento nessa obra, em minha opinião, é justamente o equilíbrio entre o que o filme diz e o que mostra, uma dissonância entre sua tese e sua estrutura. A tese do filme é clara: Strassera só conseguiu o que conseguiu auxiliado pelo idealismo inconsequente de jovens indignados, mas sendo Darín o protagonista, é dele o filme. A história aborda o acerto de contas de uma sociedade inteira com seu passado recente de arbítrio, mas isso se reflete pouco no filme com a sua estrutura rígida da luta do herói hesitante e por fim vitorioso e de seus assistentes que “o ajudam a encontrar o caminho”.
Não é um filme ruim, é bem filmado, bem dirigido, bem atuado, só lamento que a circunstância histórica não tenha favorecido um filme melhor do que mediano (outras obras argentinas sobre o período me parecem mais bem realizadas). Mas me empolgo que, na esteira de seu lançamento, se discuta o perigo de não se fazer o acerto de contas devido, como é a moda no Brasil. E foi talvez por isso, por ver um filme desses no Brasil de 2023, que eu tenha sido um pouco dominado pela melancolia numa cena específica
É uma cena construída para dar, na narrativa, a importância do processo e o impacto dos depoimentos tomados em juízo por vítimas das torturas dos militares. O personagem de Moreno Ocampo diz logo que é apresentado a Strassera que sua mãe “vai à Igreja com Videla”. Mais tarde, numa festa, é vista a dinâmica delicada que o advogado “desviante” precisa manter com sua mãe e com o resto da sua família de reaças. Mais tarde ainda na narrativa, Ocampo, já com o julgamento em curso, teme pelo resultado porque, conversando com sua mãe, nota que ela não foi convencida pelos argumentos apresentados – ao que Strassera responde sensatamente que é impossível convencer alguém tão mergulhado em conexões com a ditadura, e que se o trabalho deles fosse convencer a mãe de seu colega, eles poderiam abandonar o processo e voltar para casa.
A catarse (im)possível
Aí ocorrem as catárticas cenas de depoimentos, principalmente o de Adriana Calvo (Laura Paredes), que conta as crueldades a que foi submetida, grávida e logo após dar à luz no banco de uma viatura. E, como repercussão desse fato, Ocampo recebe um telefonema de sua mãe, horrorizada com o que ouviu. A equipe de promotores conseguiu o que o próprio filme havia sinalizado como impossível: a mulher que vai à Igreja com Videla e tem uma família repleta de militares está horrorizada com o que ouviu.
É uma cena que pretende ter um grande impacto emocional. E talvez eu esteja ficando velho, cínico e cansado, mas foi nesse exato momento que a produção me perdeu e eu me senti assistindo a um filme da Marvel em termos de fantasia narrativa. Depois dessa cena, se Strassera fulminasse a junta com raios laser saídos de seu bigode, nada mais me surpreenderia.
Nós sabemos o que é viver em um país com os mesmos dramas mostrados naquele filme: o passado negado, a culpa jogada nas vítimas, o argumento de uma “guerra heroica” travada contra o “comunismo” usado como desculpa para qualquer coisa. O que a ascensão política do bozismo recente deixou claro e nos fez saber também é quantos de nossos compatriotas estão dispostos a não ser convencidos por provas, a minimizar com argumentos relativistas o sofrimento de gente torturada e assassinada (diabos, ainda se faz isso diante dos desmandos da polícia em situações criminais “comuns”), a continuar acreditando no Brasil paralelo de suas próprias convicções ideológicas, em que “a ditadura matou foi pouco”, “houve excessos dos dois lados”, “a pandemia foi uma fraude” e “o Brasil foi o país que melhor combateu a Covid” e outras ficções semelhantes.
Hoje também sei que o meu covarde missivista de 2007 não estaria só mandando cartas anônimas, estaria acampado na frente de quartel – e não precisaria ser apenas um caquético milico aposentado, pode ser um jovem empresário marombeiro ou um virjão com metade da minha idade. Não há perfil, não há consenso, não há humanidade que penetre a camada de certezas que os apoiadores do presidente foragido empilharam para justificar ataques à normalidade institucional. Logo, embora eu entenda o coro do “sem anistia”, fico pensando se mesmo isso seria suficiente para uma mudança de mentalidade neste nosso Brasil: 2023.
NEM TE CONTO Nº 4
E já que o tema hoje foi Argentina, ditaduras e seus fantasmas metafóricos, a recomendação é um dos melhores contos de uma das melhores coletâneas de narrativas curtas recentes.
“A HOSPEDARIA”, de Mariana Enriquez
Da coletânea As Coisas que Perdemos no Fogo (Intrínseca, 2017)
A jovem Florencia é despachada com a mãe e a irmã para a zona litorânea de Sanagasta, ao norte de La Rioja, na Argentina. Na comuna aborrecida em pleno inverno, sua única alegria é poder rever com frequência Rocío, sua amiga mais próxima (e talvez paixão ainda não admitida) e filha do faz-tudo da “hospedaria” do título, o único estabelecimento hoteleiro do balneário – e, ambas descobrirão mais tarde, um antigo quartel que funcionou como “escola de polícia” nos anos mais ásperos da ditadura argentina. Rocío convence Florencia a invadirem a hospedaria vazia no inverno para aplicar uma vingança pela demissão de seu pai, e, no meio da execução do plano, elas são surpreendidas e confrontadas pelos fantasmas do passado ditatorial no sombrio edifício.
Mariana Enriquez é parte de um movimento recente e vigoroso de autoras latino-americanas que se apropriam das convenções do gênero fantástico, em especial o horror, para ampliar a potência de sua literatura. Aqui, em um texto curto, ela equilibra tantos temas que eu poderia escrever uma coluna inteira a respeito – aliás, em parte já escrevi, esta aqui. Logo, recomendo.