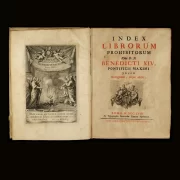Sabe aqueles episódios de que só você mesmo é a testemunha? Tenho uma longa relação. E um deles foi algo que me emocionou ao mostrar quão possível é o convívio e até o afeto entre oponentes. Era 21 de junho de 2004, já à noite. Eu passeava com os meus pais e com o meu filho Pedro de dois aninhos, que curtia um fim de dia junto dos avós. Começou um zum-zum de que Leonel Brizola tinha morrido. Deus! Que notícia triste! Eu adorava o Brizola. Como a minha esposa, a Dione, fez o livro que conta sua história sob o recorte temporal entre a Campanha da Legalidade e o exílio, eu conversava com ele além das questões profissionais. Posso dizer que tínhamos carinho recíproco. Comecei a rezar para ser só rumor, porque, bah, o Brizola ainda faz muita falta, num tempo de gorilas e sapos. Vi que era verdade quando o Paulo Sant’Anna recebeu uma ligação e confirmou. Relatei pra Folha, o jornal onde eu trabalhava. Minutos depois, chegou à redação o comunicado oficial, e lá fui eu fazer o que me cabia: repercutir a morte do querido Brizola.
Bem, você pode perceber alguns detalhes aqui: repórter fora da sede (correspondente nacional no caso, responsável pela sucursal do RS) não tem descanso. Os fatos não batem ponto, e o repórter vive dos fatos. É uma equação que não fecha. Outro detalhe é que, sendo já noite, eu estava usufruindo da família, longe da sucursal. E naquela época, pra gravar uma conversa, só no telefone fixo com o “jacaré”. Logo, não gravei.
O primeiro político contemporâneo do trabalhismo pra quem telefonei foi o Paulo Brossard, outro gigante, de perfil mais conservador e adversário político do Brizola, apesar de ambos terem estado na mesma trincheira contra a ditadura. Foi meio aleatório. O primeiro que me atendesse seria o entrevistado que abriria a lista. E o Paulo Brossard, solícito como sempre, me atendeu com muito carinho. Só que, claro, época pré-internet, ele ainda não sabia da notícia, e fui eu que tive de dá-la.
– Boa noite, doutor Brossard. Aqui é o Léo Gerchmann, da Folha de S. Paulo.
– Oi, Léo. Boa noite. A que devo este telefonema?
– É o seguinte, doutor Brossard. Não sei se o senhor já soube, mas faleceu o governador Leonel Brizola.
Silêncio. Alguns segundos. Pensei que a linha tinha caído.
Voltou ele, com a voz embargada:
– Não, Léo, eu não sabia. Era meu adversário, mas era um grande homem, um excelente político. Vai fazer muita falta.
E desandou a chorar.
Só eu testemunhei essa cena, por motivos óbvios.
E trago ela agora, nesta primeira quadra do século 21 em que temos um mundo polarizado, sem matizes, no qual uma opinião escrita em redes sociais, por mais absurda que seja, vira algo a ser defendido ardentemente, uma bandeira a ser empunhada.
(antes o cara falava uma bobagem, dava um tapa na própria testa e reconhecia a tolice, não precisando apagar o texto)
Dois gigantes. Brizola e Brossard.
…
Até hoje me comovem os convívios respeitosos entre adversários. Quando Juan Domingo Perón morreu, em 1974, o líder radical (do partido União Cívica Radical, a UCR, rival histórico dos peronistas) Ricardo Balbin, que faleceria sete anos depois (em 1981, deixando o caminho aberto pra Raúl Alfonsin ser eleito presidente pelo partido em 1983, mas essa é outra história), teve uma reação semelhante à de Brossard.
Gigantes! Como fazem falta!
…
Mas, enfim, nem vou falar de política partidária. Posso falar de ideologias. Você já percebeu que muitas vezes a questão é só de bom senso? Direitistas que negam a esfericidade da Terra e esquerdistas que rejeitam o direito dos judeus ao seu lar ficam fora disso. Esses não valem a pena, como costuma me dizer o muito querido, lúcido e inteligentíssimo amigo Nelson Asnis.
Então, vamos falar de bom senso.
O lance é equilibrar a solidariedade estabelecida por um Estado necessariamente regulador (e governado por alguém eleito democraticamente, óbvio) e a verdadeira livre iniciativa, em que todos tenham condições e direito à liberdade de ser feliz. Particularmente, acho que, onde e quando for determinante pra atenuar injustiças, o Estado precisa se fazer mais presente. Sou social-democrata muito raiz. Mas o importante aqui é mostrar que coletivo e indivíduo são essenciais e complementares.
E podemos também falar de futebol.
É curioso que as pessoas me tiram pra “fanático” só porque escrevi oito livros sobre o Grêmio, indo da história da Coligay ao mais recente, a trajetória de 120 anos do clube, livro oficial pretensamente amplo e profundo, porque foi isso o que tentei. Aliás, acredito que haja dois tipos de fanatismo. Tem o literal, no sentido de fã, e nesse eu me incluo tranquilamente; e tem o que cega ou até provoca violência, e desse eu quero distância.
Vou evitar trazer aqui uma visão maniqueísta e desequilibrada, porque é tudo o que não quero, em todos os sentidos. Em outra ocasião, posso explicar as diferenças oceânicas entre independência e imparcialidade. Sempre serei independente e, até por isso, assumo de cara limpa a minha parte (parcialidade).
Sacou?
Mas, como escrevi livros, algumas pessoas me tiram praquilo que nunca fui. Sempre fui um cara que respeitou e até admirou fatos e personagens marcantes da história alheia. Por que não? Por que os caras vestem camiseta de cor diferente? Por favor! Um dos meus livros, o “Somos azuis, pretos e brancos”, lançado há 10 anos, provoca certa polêmica que eu jamais quis provocar. Mexe com imaginários, com dogmas frágeis. E é um conjunto de fatos, facilmente comprováveis, da negritude em particular e da pluralidade em geral no meu time. Juro que, do alto da minha santa e preservada inocência, eu imaginava que o livro seria esclarecedor e muito bem aceito por todas as cores – e é, mas tem caras que até me agridem por tamanha “ousadia”
E aqui vou mostrar como gremistas e colorados, nesta rivalidade insana e ridícula que temos, podem conviver como adversários e ter afeto mútuo. O que o meu livro mostra, de forma inequívoca e acachapante? Que as histórias de ambos têm virtudes e mazelas, são humanas. Que nos anos 1930, por contextos que no livro explico, o Inter experimentou uma abertura a qual inclusive antes rejeitara (o Lupicínio Rodrigues escreveu e conta isso de viva voz na sua cinebiografia). Bonito! Por que não admitir? E, corretamente, usou isso como peça de marketing muito efetiva, como viríamos a ver décadas afora. Mas são clubes parecidos, com as suas devidas circunstâncias. Ambos têm origem na classe média com, desde o início, vocação popular (vivi o Grêmio desde criança e trabalhei profissionalmente no Inter como repórter, e atesto que há figuras históricas lindas em ambos).
Aí algum colorado se surpreende por me ver reagir furiosamente contra um coro colorado num Gre-Nal em que o verso é algo como “clube racista / que vergonha ser gremista”. Aí alguém me vê mostrando que a virtude não tem dono e a maldade não é seletiva. Até por ter pesquisado e escrito sobre o assunto, sim, eu, um cara cordato, que ama a convivência sadia entre diferentes, reajo. Reajo por ser gremista? Claro. Mas também porque sou um inquieto jornalista e sinto enorme repugnância, algo visceral, quanto ao absurdo inadmissível que é racismo, algo que deveria ser enfrentado conjunta e seriamente, e não como suposto trunfo numa disputa clubística.
Dá pra entender que ali está uma ofensa grave? Dá pra entender que é uma aberração violentíssima o gremista debochar da morte do grande Fernandão, como já vi fazerem pra meu profundo asco? Dá pra perceber que o futebol é um jogo, mas provoca identificação, pertencimento e paixão, sendo então algo sério? Dá pra perceber que há desonestidade, desrespeito e agressão nessas ofensas criminosas? Dá pra imaginar que o mundo fica melhor se adversários não são inimigos? Dá pra voltarmos à época em que a rivalidade no futebol era alimentada por galhofa, folclore e risos compartilhados? Dá pra mantermos as conquistas do século 21 recuperando a beleza de uma pureza esquecida no vácuo deixado por Brizolas e Brossards? Dá pra ter bom senso?
É possível fazermos deste mundo um lugar mais agradável?
…
Shabat shalom!
Todos os textos de Léo Gerchmann estão AQUI.
Foto da Capa: Acervo do PDT